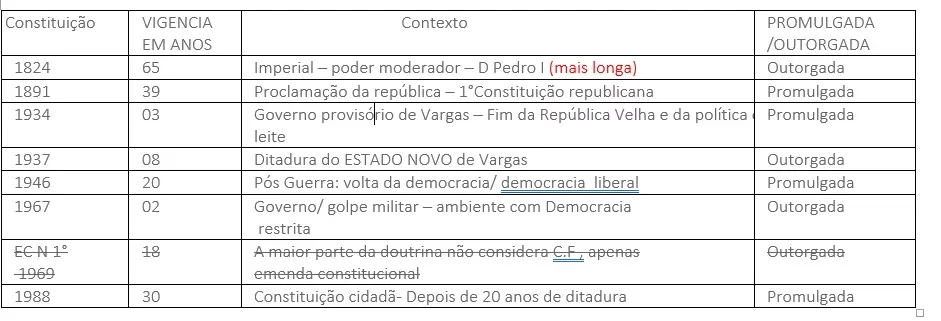AULA COMPLEMENTAR 25
Retomada: Violência: Só existe uma?
Quando alguém fala “fulano partiu para a ignorância”, pode estar se referindo à agressão física, mas também pode significar gritar, bater na mesa, ameaçar, intimidar, cercear, chantagear, obrigar a algo ou violar. Trata-se de ignorância, de fato - no caso, dos limites da outra pessoa.
É um sentido que combina com a definição de violência de uma antropóloga especializada no assunto, Alba Zaluar: ela escreve que violência vem do latim vis, que significa força. E complementa: "essa força se torna violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos, regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica”.
Cinco tipos de violência
A Lei Maria da Penha conceitua violência contra a mulher como qualquer conduta - ação ou omissão - de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato da vítima ser mulher. E que lhe cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados.
No artigo 7º, a lei tipifica os cinco tipos de violência. Resumidamente, são eles:
I - violência física
Conduta que ofende a integridade ou saúde corporal;
II - violência psicológica
Conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - violência sexual
Conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - violência patrimonial
Conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - violência moral
Conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
AULA COMPLEMENTAR 24
A Política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição.
O Brasil é uma república porque o chefe do Estado é eleito pelo povo, por mandato.
É presidencialista porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. É federativa porque os entes federativos têm autonomia política.
A União está dividida em três poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o legislativo, que elabora leis; o executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público; e o judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado.
O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos políticos. Estes são associações voluntárias de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, que tem como objetivo influenciar e fazer parte do poder político.
Em 1980, o cientista político Sérgio Abranches cunhou a expressão "presidencialismo de coalizão" para definir o mecanismo de funcionamento do regime político-institucional brasileiro.
O presidencialismo de coalizão designa a realidade de um país presidencialista em que a fragmentação do poder parlamentar entre vários partidos obriga o executivo a uma prática que costuma ser mais associada ao parlamentarismo. Segundo Abranches, mesmo eleito diretamente, o presidente da República, torna-se refém do Congresso.
AULA COMPLEMENTAR 23
Democracia e partidos políticos.
Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo.
A palavra democracia tem origem no grego demokratía que é composta por demos (que significa "povo") e kratos (que significa "poder" ou "forma de governo"). Neste sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política.
Desde a Proclamação da República, o Brasil tem sido governado por três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada quatro anos pelo voto popular em eleições diretas, desde 1989. O regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo.
Partido político é um grupo organizado, legalmente formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político.
Partido, é um grupo organizado de pessoas que formam legalmente uma entidade, constituídos com base em formas voluntárias de participação em uma associação orientada para influenciar ou ocupar o poder político em um determinado país.
PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL
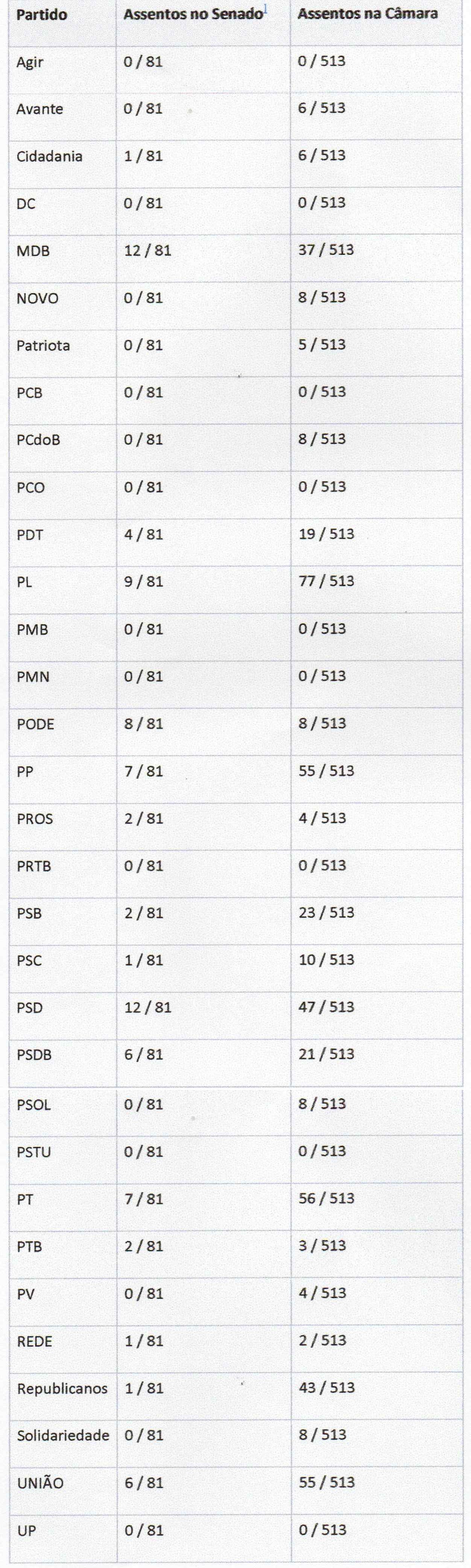
Porque temos tantos partidos políticos no Brasil?
O Brasil possui 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E ainda temos outros 55 (isso mesmo, cinquenta e cinco!) aguardando o registro junto à Justiça Eleitoral – esse registro apenas é concedido com o cumprimento de alguns requisitos.
Na Câmara de Deputados, temos parlamentares de 27 siglas partidárias diferentes.
É verdade que muitos países possuem mais de 50 partidos políticos. Mas, aqui no Brasil, temos também o maior número efetivo de partidos políticos do mundo! Se você não sabe, esse conceito refere-se às legendas que de fato possuem influência em um sistema político. Eles possuem parlamentares suficientes para barganhar na formação de coalizões, por exemplo.
A partir desse conceito, o Brasil possuía 14 partidos políticos efetivos em 2014, muitos mais do que a média mundial, de apenas quatro partidos.
MAS POR QUE TANTOS PARTIDOS EM NOSSA FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA?
Enquanto em outras democracias, o próprio sistema eleitoral se encarrega de barrar partidos pouco expressivos, adotando para isso uma gama de medidas, as regras eleitorais brasileiras acabaram favorecendo a presença de muitos partidos, fomentando a fragmentação partidária atual. Vamos ver alguns que são apontados por cientistas políticos:
Votação proporcional em lista aberta
O sistema que elege deputados e vereadores pode ser um dos motivos para isso. A votação proporcional favorece a pluralidade partidária. A ideia do sistema proporcional é representar da melhor forma possível as proporções de votos que cada partido recebeu.
Por isso, se um partido recebe 15% dos votos para a Câmara, a tendência é que ocupe proporção semelhante de vagas nessa casa legislativa. A possibilidade de fazer coligação nessas votações amplia as chances dos partidos menores de conseguir cadeiras no legislativo.
Ausência de cláusulas de desempenho
Estabelecer critérios mínimos para que partidos tenham vagas no parlamento tende a diminuir o número efetivo de partidos. A cláusula de barreira em discussão no Congresso atualmente dificultaria a vida de todos os partidos que não conquistarem pelo menos 2% dos votos nas eleições para deputado federal (em um universo de 144 milhões de eleitores, isso equivale a quase 3 milhões de votos, ou quase a população inteira do estado do Mato Grosso). Estudos mostram que dos 27 partidos na Câmara, 14 seriam prejudicados pela medida – e poderiam deixar de existir.
FUNDO PARTIDÁRIO E PROPAGANDO GRATUITA
Finalmente, é preciso lembrar que a legislação concede a todas as agremiações, independentemente de números de filiados ou parlamentares eleitos, tempo de propaganda gratuita na televisão – mesmo que muito curto – e acesso a parte do fundo partidário – uma parcela pequena, porém relevante.
O fundo partidário viabiliza a manutenção das atividades dos partidos, inclusive os menores, com poucos filiados. Já o tempo de propaganda garante um mínimo de visibilidade ao partido. Em muitos países, os partidos não recebem recursos públicos para subsistir. Para isso, dependem primariamente de doações.
AFINAL, POR QUE É RUIM TER MUITOS PARTIDOS?
Um dos principais problemas que a atual fragmentação partidária brasileira pode causar é de falta de governabilidade. Por governabilidade, entende-se a capacidade do Poder Executivo de colocar em prática as políticas públicas planejadas e de tomar decisões relevantes.
Em uma democracia representativa como a nossa, a capacidade de governar depende do aval do Poder Legislativo – que aprova pautas do governo e tem o poder de até mesmo destituir o chefe do Executivo.
Quanto mais partidos representados no Legislativo, mais complicado é para o Executivo negociar e garantir apoio dentro daquele poder. É dessa situação que decorre o famoso “toma lá, dá cá”: a intensa troca de vantagens entre partidos – ministérios e cargos em empresas estatais, por exemplo – para a formação de uma base aliada no Congresso.
O alto número de partidos, alguns poderiam argumentar, pode ser positivo, se indicar que a pluralidade política brasileira está sendo solidificada. Como o Brasil é um país grande e muito diverso, um alto número de partidos seria algo esperado – e até saudável.
Entretanto, a realidade é outra. Alguns partidos acabam por viver em função dos ativos que o sistema político garante (tempo de televisão e fundo partidário), sem acrescentar muita substância à vida política nacional. Portanto, a fragmentação no sistema político brasileiro pode ser sinal de que a legislação incentiva a criação de partidos que pouco agregam ao sistema político.
Além disso, a fragmentação partidária pode ser indicativo de outros problemas, ligados à nossa curta trajetória democrática. A falta de identificação do eleitor com partidos e, portanto, com projetos e ideologias políticas é uma delas.
Pode-se dizer que há uma falta de ligação do eleitor com a democracia representativa, o que leva à descrença nesse sistema. De fato, poucos partidos brasileiros possuem bases sólidas junto a grupos da sociedade civil e por isso torna-se mais difícil consolidar a democracia no país.
Por fim, há um problema de incerteza eleitoral. Como são muitos candidatos concorrendo aos cargos, a competição eleitoral torna-se muito grande. Para vencer a concorrência, candidatos gastam grandes quantias, tornando nossas eleições uma das mais caras do mundo.
DIMINUIR O NÚMERO DE PARTIDOS VAI SERVIR PRA QUÊ?
A diminuição do número de partidos, em teoria, pode ser benéfica para a democracia brasileira se realmente se traduzir na reversão de aspectos negativos do nosso sistema partidário – algo que, é preciso dizer, não é totalmente certo. Mas, pelo menos em teoria, com menos partidos seria mais fácil formar blocos partidários coesos e com ideologias e programas comuns.
Um dos grandes pontos da discussão acerca da fragmentação partidária é o fato de que governos também teriam menos problemas para formar maiorias no Congresso e viabilizar projetos, causando menos instabilidade institucional. Por fim, a maior estabilidade do sistema poderia aumentar a identificação do eleitor com partidos políticos e com o sistema representativo, especialmente se reformadas algumas regras do sistema proporcional.
AULA COMPLEMENTAR 22
O Estado é o representante do povo e possui a difícil missão de conciliar todos os interesses que o impulsionam com a manutenção da ordem estabelecida e viabilizadora da sobrevivência da sociedade.
A participação dos cidadãos nos assuntos do Estado requer uma análise detalhada da condição que confere essa qualidade a uma pessoa, qual seja, a realização da requisição do título de eleitor junto à Justiça Eleitoral.
Após a emissão do título de eleitor são conferidos ao cidadão os direitos de participar das decisões do Estado, de fiscalizar os atos praticados pelos órgãos administrativos e o direito de exigir do Estado uma conduta compatível com os valores insculpidos constitucionalmente.
O Estado é o representante do seu povo, inserido dentro de seu território, no qual exercerá a sua soberania e buscará a plenitude de uma vida digna. Para tanto deverá dispor de instrumentos eficazes e aptos para, em coordenação com o Estado, concretizar os valores, princípios e leis pertencentes ao povo e ditados pelo Estado na condição da porta voz dos seus nacionais.
O elemento pessoal é necessário para a constituição e a existência do Estado. O Estado é formado para o elemento pessoal. Para determinar o conceito de povo se parte da seguinte distinção, o Estado apresenta um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo.
O aspecto subjetivo do povo consubstancia-se no fato do Estado ser o ente detentor do poder público e pelo fato do povo ser um dos elementos componentes do Estado. Já o aspecto objetivo consubstancia-se no fato do povo ser objeto da atividade do Estado.
Todos os indivíduos que formam o povo são, ao mesmo tempo, objeto do poder do Estado e membros do Estado. Enquanto objetos os indivíduos subordinam-se ao Estado e são sujeitos de deveres.
Já na condição de membros do Estado, os indivíduos atuam conjuntamente com o Estado, numa perfeita relação de coordenação, tornando-se sujeitos de direitos.
Todo indivíduo submetido ao Estado será reconhecido como pessoa, e aqueles que estiverem submetidos ao Estado participarão de sua constituição e exercerão funções.
Levando em consideração a existência de um vínculo jurídico entre o Estado e os membros do povo, exige-se do Estado o seguinte: o Estado não pode ultrapassar os limites impostos pelo Direito, o Estado é obrigado a agir para proteger e favorecer o indivíduo e quando os indivíduos atuam em nome do Estado serão reconhecidos como órgãos do Estado.
Dando continuidade às conclusões reflexivas pode-se afirmar que o povo é o elemento que dá condições para o Estado formar e externar uma vontade. Povo é o conjunto de indivíduos que, em determinado momento jurídico, unem-se para constituir um Estado. A partir desse momento, os indivíduos formam um vínculo jurídico com o Estado de caráter permanente, participando da formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano.
A participação do povo de forma coordenada com o Estado e o exercício do poder soberano podem ser subordinados ao cumprimento de requisitos jurídicos.
Todos os indivíduos do povo que se integram no Estado mediante a existência de um vínculo jurídico permanente, fixado no momento de unificação e constituição do Estado, irão adquirir a condição de cidadãos.
Povo é o conjunto de cidadãos do Estado. Para o cidadão adquirir o direito de participar da formação de vontade do Estado e do exercício do poder soberano, deverá preencher alguns requisitos pré-estabelecidos legalmente.
Os direitos e os deveres decorrentes da condição de cidadão acompanham o indivíduo por onde quer que ele esteja. Entende-se como cidadão ativo o indivíduo que preencher todos os requisitos legais e adquirir todos os direitos decorrentes do preenchimento desses requisitos.
Finalidade e funções do Estado
Existe uma estreita relação entre os fins do Estado e as funções que ele desempenha.
Para reconhecer os fins do Estado será feita uma distinção entre os fins objetivos do Estado e os fins subjetivos do Estado.
Os fins objetivos devem ser encarados sob duas óticas possíveis, uma representada pela persecução de fins universais objetivos comuns a todos os Estados durante todos os tempos, e outra representada pela persecução de fins particulares objetivos pertencentes a cada Estado segundo sua história, circunstâncias e condições nas quais se formou.
Já os fins subjetivos levam em consideração somente a relação entre os Estados e os fins individuais. O Estado é uma unidade formada com a intenção de realizar inúmeros fins particulares, sendo de suma importância localizar os fins que conduzem à unificação.
A teoria dos fins expansivos enfatiza o crescimento desmesurado do Estado com consequente anulação do indivíduo. São as teorias que embasam os Estados totalitários. Podem ser utilitárias ou éticas. As primeiras pregam como bem supremo o máximo desenvolvimento material a todo o custo. As segundas pregam a realização de fins éticos por Estados extremamente moralistas.
A teoria dos fins limitados, como o próprio nome indica, limitam as atividades do Estado e o tornam um mero vigilante da ordem social, viabilizando somente sua intervenção no que disser respeito à matéria de ordem econômica, ou, em determinados casos, para proteger a segurança dos indivíduos.
A teoria dos fins relativos leva em consideração a necessidade de novas atitudes entre os indivíduos em seu relacionamento recíproco, bem como nas relações entre o Estado e os indivíduos que o compõem. A base dessa teoria é a solidariedade.
De acordo com as vertentes mais extremas dessa teoria, não basta somente assegurar a todos os indivíduos uma plena igualdade jurídica, deve-se também exigir sua participação nos ônus públicos.
Por derradeiro, cumpre destacar os fins exclusivos e os fins concorrentes. Os fins exclusivos cabem somente ao Estado e compreendem a segurança externa e interna. Já os fins concorrentes não são tratados com exclusividade pelo Estado.
Em sede de conclusão cumpre salientar que o fim primordial do Estado é assegurar o conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento pleno da personalidade humana.
O poder do Estado
O Estado pode ser conceituado como resultado da institucionalização do poder. O poder é um elemento essencial ou uma nota característica do Estado. Sendo o Estado uma sociedade não conseguirá subsistir sem um poder. Uma das qualidades mais importantes do Estado é a soberania.
Ignorando-se essa característica referente à soberania, mister se faz caracterizar o poder do Estado, demonstrando em que ele difere dos demais poderes. Dá-se início fazendo-se referência às características de dominação e não dominação.
Pois bem, por não dominação entenda-se a ausência de força no sentido de coação legal, para obrigar com seus próprios meios à execução de ordens. Trata-se de um poder disciplinador, desprovido de dominação.
Já o poder dominante apresenta duas características que lhe são intrínsecas, é originário e irresistível. Pela primeira característica afirma-se que o Estado dispõe de um poder que lhe é próprio do qual derivam os demais poderes. Pela segunda característica o poder do Estado é irresistível por ser um poder dominante.
Dominar significa mandar de um modo incondicionado e exercer coação para que sejam cumpridas as ordens dadas.
O indivíduo submetido ao poder estatal não consegue furtar-se de sua influência.
Após um detalhado exame de todas as características do poder do Estado, de sua origem, de seu modo de funcionamento e de suas fontes, chega-se à conclusão de que não pode ser admitido como estritamente político nem como estritamente jurídico.
Uma observação importantíssima a ser feita nesse trecho é a de que não existe poder que não sofra uma qualificação jurídica. Porém, o poder nunca deixa de ser político, necessitando do direito para impor-lhe limites e direcionar a sua aplicação na persecução dos objetivos.
Conceito de Estado
É impossível conceituar objetivamente o Estado sem que, nessa conceituação, insira-se uma pitada de subjetividade. Um conceito razoável do que vem a ser um Estado consiste numa ordem jurídica soberana cuja finalidade é perseguir o bem comum de um povo que está situado dentro dos limites do território do Estado.
Conceito de cidadania
A adoção do sistema representativo permite aos cidadãos elegerem os seus representantes para comporem os órgãos governamentais. Direitos políticos são, na verdade, um conjunto de normas legais que organizam e regulam todos os procedimentos atinentes à escolha dos representantes dos cidadãos. Logo, os direitos políticos consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular.
Nesse sentido é o conteúdo do parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal da República, segundo o qual, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.
A cidadania pode ser considerada como uma qualidade ligada ao regime político. A cidadania é uma qualificação dos indivíduos que participam da vida do Estado, é, em última análise, um direito de participar do governo e um direito de ser ouvido pela representação política.
Cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências.
A nacionalidade é um pressuposto da cidadania e não pode ser confundida com dito conceito. Assim, somente o titular da nacionalidade brasileira poderá participar da vida do Estado.
Há que ser feita uma breve distinção entre direito políticos ativos e direitos políticos passivos. Os direitos políticos ativos referem-se ao eleitor e sua atividade. Já os direitos políticos passivos dizem respeito aos indivíduos passivos de serem eleitos e aos indivíduos já eleitos.
Pois bem, a aquisição da cidadania ocorre com o devido alistamento eleitoral cujo procedimento está previsto legalmente. Assim, ao comparecer à Justiça Eleitoral, a pessoa deverá qualificar-se e inscrever-se como eleitora.
Nos termos do § 1º, incisos I e II, do artigo 14, da Constituição Federal, o alistamento é obrigatório aos maiores de 18 (dezoito) anos, e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 (setenta) anos e para os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos. O mesmo artigo, em seu § 2º, prevê que não são alistáveis como eleitores os estrangeiros e os convocados (conscritos) durante o serviço militar obrigatório.
O alistamento é um ato que depende da voluntariedade da pessoa que realizará um requerimento. No caso do brasileiro nato que não se alistar até os 19 (dezenove) anos de idade ou no caso do brasileiro naturalizado que não se alistar até 1 (um) ano contado da data da sua naturalização, será aplicada multa.
A obtenção da qualidade de eleitor ocorre após o alistamento obrigatório, sendo documentalmente comprovada com um título de eleitor válido.
Direitos políticos positivos
Por direitos políticos positivos entende-se o conjunto de normas legais que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos do governo.
Uma distinção importantíssima para afastar confusões conceituais é a empregada na análise dos termos sufrágio, voto e escrutínio.
O sufrágio é um direito público do cidadão, de natureza política, que lhe possibilita eleger seus representantes, ser eleito como representante e participar da organização e da atividade do poder estatal. A qualidade do sufrágio de ser universal é um reflexo da democracia política representativa.
O sufrágio direto manifesta-se pela escolha direta feita pelos eleitores em relação aos seus representantes. Em contrapartida, o sufrágio indireto ocorre quando os eleitores escolhem intermediários que irão escolher os representantes do povo. A eleição direta constitui um processo mais democrático do que a eleição indireta.
Os titulares do direito de sufrágio são os brasileiros natos ou naturalizados que na data da eleição tiverem 16 (dezesseis) anos, desde que alistados na forma da lei, conforme previsão do § 1º, do artigo 14 da Constituição Federal.
Já em relação à titularidade do direito de sufrágio passivo, ou seja, quais pessoas podem ser eleitas, podemos citar todos os cidadãos alistados exceto os analfabetos e os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos.
Em suma, o artigo 14 da Constituição Federal estabelece como requisitos para uma pessoa adquirir o status de cidadão são: nacionalidade brasileira, idade mínima de dezesseis anos, alistamento eleitoral na forma da lei e não ser conscrito no serviço militar.
O voto consiste no exercício do direito de sufrágio. O voto emana do direito fundamental do sufrágio. O voto é a manifestação do direito de sufrágio no plano prático (SILVA;2104).
O voto é um direito público subjetivo, além de ser uma função da soberania popular e um dever sociopolítico do cidadão.
Para que um voto tenha eficácia, seja condizente com a real vontade do eleitor e seja autêntico, há de apresentar mais duas características que viabilizam a realização das anteriormente citadas, quais sejam, a personalidade e a liberdade.
A personalidade exige que o eleitor esteja presente e vote por ele próprio. No ato do voto será exigido do eleitor esteja portando a carteira de identidade juntamente e do título de eleitor. Quanto à liberdade, entende-se que o eleitor deve manifestar sua vontade livremente, optando até para votar em branco.
O escrutínio representa o modo de exercício do voto concretamente, envolvendo, assim, todas as operações eleitorais concretas destinadas a recolher e apurar os sufrágios.
Ao conjunto de todas as pessoas que detêm o direito de sufrágio dá-se o nome de eleitorado.
A elegibilidade de um cidadão consiste no direito de candidatar-se a um cargo no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Dentro de um sistema democrático, a elegibilidade deve ser uma tendência universal, assim como ocorre com o direito de alistar-se eleitor.
São condições de elegibilidade: estar o cidadão no gozo dos direitos políticos, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima a depender do cargo e não incorrer em nenhuma inelegibilidade específica em leis complementares.
O § 3º, do artigo 14, da Constituição Federal elenca algumas das inelegibilidades. A competência para legislar sobre elegibilidade, condições de elegibilidade e condições de inelegibilidade são privativas da Constituição Federal.
Como eleito considera-se o candidato que tenha recebido votação suficiente para lhe conferir o mandato.
Sistemas eleitorais
A eleição pode ser entendida como um concurso de vontades juridicamente qualificadas com o intuito de designar um titular de mandato eletivo. O sistema eleitoral é o conjunto de técnicas e de procedimentos que se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo dentro do território nacional.
O termo reeleição remete à possibilidade concedida constitucionalmente ao titular de um mandato eletivo de pleitear a sua própria eleição para um mandato sucessivo ao que está desempenhando. Dito em outras palavras, trata-se de uma candidatura ao cargo que o candidato já exerce, mas somente por um único período subsequente.
AULA COMPLEMENTAR 21
Eu não gosto de política.
Essa atividade chama atenção para a importância de exercermos a nossa cidadania plena e com ética, pois o analfabeto político que diz ser neutro, abominar a política, nega-se a participar dos acontecimentos políticos.
Ele não lê, não analisa o que ouve e assimila como verdade, fala e repete o que ouviu, sem questionar, vítima fácil de “fake News” e divulga nas redes sociais.
O analfabeto político é facilmente manipulável, interpretando os fatos com a ingenuidade, pois não sabe quem o manipula.
"O Analfabeto Político - Rolando Boldrin
Bertolt Brecht
AULA COMPLEMENTAR 20
A invisibilidade da mulher negra.
Durante quase 300 anos, as mulheres negras do Brasil, não geravam filhos......geravam escravos e escravas.
O processo de formação da sociedade brasileira, a qual se deu em um contexto de desumanização e exploração da população negra por meio da mão de obra escrava e mesmo após a suposta “libertação” a partir da assinatura da Lei Áurea, os direitos seguiram sendo negados e não foi dada nenhuma possibilidade que permitisse construir uma realidade justa e igualitária a partir daquele momento.
A pirâmide social brasileira é em tese formada pelo homem branco, seguido da mulher branca, o homem negro e na base encontra-se a mulher negra.
Ao observar essa realidade é perceptível que as mulheres negras são o grupo que mais sofre os impactos sociais ocasionados por uma estrutura de poder que é patriarcal, elitista, machista,misógina, racista e que atua na perspectiva de manter em curso as desigualdades sociais, de gênero e principalmente a desigualdade racial.
Se o negro sofre preconceito, se a mulher sofre preconceito, uma mulher negra sofre preconceito duplo.
Ao longo da história as mulheres alcançaram através das suas lutas, importantes conquistas de direitos. Entretanto, vale lembrar que a abrangência desses direitos nem sempre englobaram todas as mulheres de forma unanime, sobretudo, em razão do marcador racial e de classe ainda presente na sociedade.
A criação de políticas públicas de atenção à mulher, precisam que sejam levadas em consideração as necessidades relacionadas às mulheres negras, que na maioria das vezes são diferentes das necessidades que envolvem as mulheres não negras.
No Brasil, um grupo minoritário ocupa espaços na esfera política, se isso ocorre, quem está discutindo as pautas das mulheres negras?
Quais são os projetos que estão sendo criados a fim de atender as necessidades das mulheres negras?
Alguém está falando por nós e certamente esse alguém não conhece as nossas dores porque nunca as sentiu. As mulheres negras precisam falar por si, precisamos ter espaços garantidos para romper o silenciamento a qual foram submetidas historicamente, só assim poderão relatar as suas dores, expressar as suas necessidades e exercer a sua cidadania.
Resistir ainda é a arma principal frente às estruturas promissoras das desigualdades e violações dos direitos das mulheres negras. Mas, acima de tudo é preciso que haja um conscientização política nas escolha de suas representantes.
AULA COMPLEMENTAR 19
Retomada: Quem tem medo de falar sobre racismo?
O racismo no Brasil é conformado por mais de três séculos de escravidão e por teorias racialistas que fizeram parte da construção da identidade nacional. Após a abolição, a ausência do Estado na integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas para sua participação em uma sociedade livre garantiu a sobrevivência e ressignificação da mentalidade e prática escravocrata nas estruturas da república.
Como disse assertivamente Joaquim Nabuco, político abolicionista: "O nosso caráter, temperamento, a nossa moral acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira (...) enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser".
O que é racismo?
O racismo é o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos, preconceitos.
Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como o espacial, cultural, social. Conforme definição do Artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial:
“Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada”.
O termo raça, no século XIX, era baseado nas classificações taxionômicas das ciências biológicas pelas quais os seres vivos eram categorizados. Assim, presumia-se que, nos grupos humanos, características genéticas determinavam características fenotípicas e mesmo sociais. A expressão, ainda hoje utilizada, que bem exemplifica essa associação é dizermos que uma pessoa tem determinado comportamento ou habilidade porque “está no sangue”.
A aplicação da teoria darwinista às ciências humanas produziu teorias racialistas e evolucionistas sociais que partiam de premissas de que haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros e que a história humana era unilateral e dividida em fases, as quais levariam da barbárie à civilização (as sociedades consideradas superiores julgavam-se no estágio de civilização).
Esse tipo de pensamento serviu como justificativa para empreendimentos neocoloniais e também para a já estabelecida escravidão de povos não brancos, que reverberaria nos séculos seguintes nas mais variadas formas de racismo.
Aspectos históricos do racismo no Brasil
Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, 1 em cada 4 eram enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX.
Cerca de 20%, 1,8 milhão de pessoas, não chegaram ao destino – morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, disenteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes os mortos jaziam por dias junto aos vivos nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar.
Nesse período, até mesmo o hábito dos cardumes de tubarões do Oceano Atlântico foi modificado, conforme aponta o jornalista Laurentino Gomes em seu livro “Escravidão”.
Alguns africanos suicidavam-se pulando em alto-mar, e os que sobreviviam à travessia, que podia durar meses, chegavam às novas terras debilitados, subnutridos, doentes, machucados e, por vezes, cegos devido a infecções oculares.
O tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil.
O registro de desembarque oficial de escravizados no Brasil data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despontar.
O auge do tráfico negreiro no Brasil ocorreu entre 1800 e 1850. A maior parte dos negros que aqui desembarcavam era proveniente de Angola, Congo, Moçambique e Golfo do Benim. As condições precárias de higiene, alimentação e descanso, as jornadas exaustivas e os cruéis castigos físicos a que eram submetidos restringiam a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos.
Na segunda metade do século XIX, o Brasil contava com uma grande população negra, uma intensificação das fugas e da formação de quilombos, pressão internacional – especialmente da Inglaterra – pelo fim da escravidão e a necessidade de se adequar ao capitalismo, que estava em processo de expansão no país.
O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, foi o último a extinguir o tráfico negreiro – com a Lei Eusébio de Queirós em 1850 – e também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea, em 1888.
Segundo o historiador Luiz Felipe Alencastro, o que estava em jogo na conjuntura da abolição não era somente a liberdade dos escravizados, mas o temor de que ocorresse uma reforma agrária. O abolicionista André Rebouças, engenheiro negro, propôs que fosse criado um imposto sobre fazendas improdutivas e que essas terras fossem distribuídas entre ex-escravos.
Houve, porém, um acordo entre latifundiários e o movimento republicano para que a propriedade rural fosse poupada e a liberdade aos negros fosse concedida sem compensação ou alternativa de inserção no mercado de trabalho dos homens livres.
Assim, os latifundiários passaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar nas terras, e os ex-escravizados, mesmo sendo brasileiros, ficaram sem trabalho na zona rural e, em parte, na cidade, além de não gozarem de cidadania plena – boa parte era composta por analfabetos e, por isso, não podia votar.
Além disso, a prática da escravidão com severos castigos físicos fez com que, no Brasil, a tortura fosse legalizada para escravos. Quando abolida, a prática do açoite e espancamento era amplamente difundida e continuou sendo praticada por agentes policiais, mesmo que por lei fosse proibida. Os mecanismos da repressão escravista sobreviveram à escravidão.
João Cândido lê o Manifesto da Revolta da Chibata: insurreição de marinheiros negros que pediam o fim de castigos corporais (1910).
Outro aspecto importante é a questão de moradia e trabalho. A abolição, sem a criação de mecanismos para um recomeço de vida e que integrassem a população negra à sociedade livre e baseada no trabalho assalariado, levou essa população a continuar na pobreza, sem trabalho ou com empregos precários, vivendo nas periferias das cidades, afastada dos bairros centrais, sem escolaridade e, por consequência, sem direito a participar da política.
O projeto conservador de modernização do Brasil não teve o interesse em integrar a população negra, mesmo porque era orientado por ideários racialistas que associavam a mestiçagem ao atraso, portanto modernizar significava branquear a sociedade brasileira, pensamento ao qual nem mesmo alguns abolicionistas como Joaquim Nabuco escapavam.
Mito da democracia racial
A ideia de democracia racial remete a uma sociedade sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. É essencialmente utópica, posto que a plena igualdade e a ausência completa de qualquer tipo de preconceito não ocorrem e nunca ocorreram em nenhum lugar do mundo.
No Brasil, todavia, a formação da identidade nacional teve como um de seus componentes o mito da democracia racial, isto é, a ideia de mestiçagem como um lugar de convergência entre os muitos povos que aportaram aqui e da convivência harmônica entre negros e indígenas escravizados e portugueses, concepção inclusive reforçada em clássicos da nossa literatura e sociologia, como na obra “Casa-Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre.
Havia a ideia de uma falsa harmonia na qual senhores brancos “cediam espaço” a alguns mulatos a quem se afeiçoavam, desde que não ameaçassem sua liderança. O mito da democracia racial consiste em transformar, no campo do discurso, essa situação de exceção em regra.
Essa aceitação limitada somada à igualdade jurídica pós-abolição, que não se efetivou por não incluir a igualdade política de votar e se associar em busca de direitos, conduziu também a uma falsa ideia de meritocracia, pela qual os negros e os brancos estavam em condição de igualdade em oportunidades e recursos, e o fracasso do negro era resultado de características pessoais, como indolência, incapacidade, degradação moral e ignorância – hipótese referendada pelo racismo científico, que as atribuía a deficiências biológicas.
Essa mentalidade era eficiente em desarticular a população negra de modo que não retaliasse seus ex-senhores e não exigisse deles ou do Estado brasileiro reparação pelos danos sofridos ou políticas compensatórias.
Aqui se aplica o conceito marxiano de ideologia, pelo qual a classe dirigente produz e difunde uma visão invertida da realidade, distorcendo propositalmente o padrão de relações sociais para levar os oprimidos a aceitarem a espoliação, omo asseverou o brilhante intelectual negro Abdias do Nascimento:
“Devemos compreender democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país”.
Racismo estrutural no Brasil
O Brasil é o país com a maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade brasileira, está sub-representada em todos os âmbitos da vida social.
Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esferas de decisão, como aponta o maior sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, em seu livro “A integração do negro na sociedade de classes”|3|:
“A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho”.
Esse problema central engendrou o que hoje denominamos de racismo estrutural. A ausência de políticas públicas de integração da população negra recém-liberta, relegando-a à própria sorte, gerou consequências dramáticas que se reproduziram no tempo.
O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho, na formação educacional. É o resultado secular de um país assentado em bases escravocratas, influenciado por dogmas racialistas e que não buscou integrar a população de ex-escravizados em seu sistema formal, relegando-os à marginalidade e culpabilizando-os pelas consequências nefastas desse abandono proposital.
Pode parecer algo longínquo, mas a escravidão foi abolida há apenas 131 anos, e a desigualdade racial provocada por ela e pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou meios para a autonomia, são perceptíveis no Brasil de hoje.
O Estatuto da Igualdade Racial define desigualdade racial como |1|: “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”. A desigualdade racial é o resultado do racismo estrutural.
Dados sobre o racismo no Brasil
Conforme dados do IBGE de 2018|4|, 56,10% da população brasileira declara-se como preta ou parda. No entanto, quando observamos dados do mercado de trabalho, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos, e somente 29,9%, por pretos ou pardos.
Já na taxa de força de trabalho subutilizada, isto é, pessoas que trabalham menos do que gostariam, 29% era preta ou parda contra 18,8% de brancos subocupados. Na representação legislativa, dentre os deputados federais, 75,6% eram brancos, contra 24,4% de pretos ou pardos. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9%; entre pretos e pardos, era 9,1%. Nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha a média de 34,0, e a população preta ou parda apresentava 98,5, ou seja, a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase três vezes maior que a de um jovem branco.
A ocupação informal também é maior entre pretos e pardos (47,3%) do que entre brancos (34,6%.) A desigualdade salarial é notória quando a renda média é estratificada. O rendimento mensal de pessoas brancas naquele ano foi R$ 2.796,00, e o rendimento mensal médio de pessoas pretas ou pardas foi R$ 1.608,00.
Além disso, mesmo sendo maioria no Brasil, esse grupo, em 2018, representou apenas 27,7% das pessoas com os maiores rendimentos; no entanto, no grupo com os menores rendimentos, abarca 75,2% dos indivíduos.
As condições de moradia da população preta ou parda também apresenta desníveis em relação à população branca. Há mais pretos e pardos residindo em domicílios sem coleta de lixo (12,5% contra 6,0% da população branca), sem abastecimento de água por rede geral (17,9% contra 11,5% da população branca) e sem esgotamento sanitário (42,8% contra 26,5% da população branca).
Levantamento realizado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais da UFRJ entre 2007 e 2008 constatou que, em 70% das ações por racismo ou injúria racial daquele período no Brasil, quem ganhou foi o réu; em apenas 30% dos casos, a vitória foi da vítima. Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a partir de 2005 passou a considerar dados sobre casos de injúria racial e racismo, entre 2005 e 2018, somente 6,8% dos processos por esses crimes resultaram em condenação no estado. Na Bahia, entre 2011 e 2018, somente sete processos por racismo foram julgados, um por ano.
Por outro lado, o 13º Anuário da Violência, compilado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, aponta que, em 2018, 75,4% das vítimas da letalidade policial eram pretas ou pardas, em sua maioria jovens e do sexo masculino. A pesquisa também revela que mulheres negras representam 61% das vítimas de feminicídio e 50,9% das vítimas de estupro. Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no último levantamento nacional realizado em 2016, apontam que 65% da população carcerária brasileira é composta por pretos e pardos.
Essas dados ressaltam a urgência na promoção de políticas públicas voltadas para a população parda e preta de forma a democratizar o acesso a serviços públicos e a oportunidades.
Lei antirracismo no Brasil
Se fizermos uma observação abrangente de leis relacionadas à luta contra o racismo no Brasil, encontraremos uma legislação parca relacionada ao tema. Desde a Proclamação da República, uma das primeiras medidas legais cuja aplicabilidade poderia em tese enquadrar situações de racismo consta do Código Penal Brasileiro, cujo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, no artigo 140, tipifica a injúria como crime. Nas modificações que sofreu posteriormente, ela passou a tipificar a injúria racial.
Em 3 de julho de 1951, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 1.390, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. A promulgação dessa lei foi motivada por uma situação de discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, Katherine Dunham, impedida de se hospedar num hotel em São Paulo em razão de sua cor, o que repercutiu mal à época na imprensa estrangeira.
A Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, em seu artigo 1º, tipifica como “homicídio qualificado os casos em que haja intenção de matar grupo nacional, étnico, racial ou religioso”, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. A incitação pública ao crime contra esses grupos também é criminalizada no artigo 3º. Em 1990, na Lei nº 8.072, que dispõe sobre crimes hediondos, o crime de genocídio previsto na Lei nº 2.889 é qualificado como tal.
Na Constituição de 1988, o artigo 3º, em seu inciso IV, estabelece como objetivo precípuo da Nova República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O Artigo 4º, inciso VII, define que “as relações internacionais brasileiras regem-se pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo”.
A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes de preconceito de cor e raça e estabelece penalidades para situações de discriminação: em ambiente de trabalho público ou privado, como ter acesso negado a empregos, cargos, serviço militar, ou sofrer tratamento diferenciado; em locais públicos, como ser impedido de adentrar em transporte público, edifícios públicos, clubes, restaurantes, etc. Essa lei também estabelece punições para “práticas de incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor”, criminalizando, inclusive, a fabricação, comercialização e distribuição de propagandas de incitação a essas modalidades de preconceito. Essa é a lei que prevê o crime de racismo, isto é, a discriminação racial praticada contra uma coletividade. Essa lei tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável.
A Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, promoveu alterações na legislação antirracista. À Lei nº 7.716 acrescentou a punição à discriminação e à incitação à discriminação por etnia, religião ou procedência nacional, além do preconceito de raça e cor anteriormente previsto. Ao artigo 140 do Decreto-Lei nº 2.848 acresceu na especificação de injúria “elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem”. Mais tarde, a Lei nº 10.741, de 2003, ampliou a definição, incluindo “a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.
Em 2003, a Lei nº 10.639 modificou a Lei de Diretrizes de Base da Educação, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental.
Em 20 de julho de 2010, a Lei nº 12.288 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, “destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. Esse estatuto modificou as leis anteriores, atualizando-as. Incluiu na lei nº 7.716, por exemplo, a possibilidade de interdição de mensagens e páginas da internet. A Lei nº 12.735, de 30 de novembro de 2012, prevê a “a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio” por incitações ao preconceito racial.
O Estatuto da Igualdade Racial, além de atualizar e ampliar o alcance das leis antirracistas anteriores, tem uma dimensão propositiva de embasar juridicamente políticas públicas direcionadas a diminuir as desigualdades raciais no acesso a bens, serviços e oportunidades. Nesse escopo estão as ações afirmativas, como a Lei de Cotas, Lei nº 12.711/2012, que reserva vagas nos cursos de graduação das universidades federais para estudantes de escolas públicas, negros, indígenas e quilombolas, e a Lei nº 12.990/14, que estabelece cotas para negros e pardos em concursos federais.
É importante ressaltar que, além da promulgação da legislação antirracista, é primordial que haja a promoção de sua efetividade.
Racismo e preconceito
Preconceito, segundo o Dicionário Aurélio, é o “conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; ideia preconcebida; julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc”.
Racismo é uma forma de preconceito, pois é feito um prejulgamento sobre outrem por conta de características físicas ou étnicas, mas há inúmeras outras formas de preconceito, baseadas na condição econômica, na religião, no gênero, na sexualidade, na escolaridade, na posição política, etc.
Os preconceitos são construídos em nossa socialização pela assimilação de percepções a que somos expostos ao longo da vida, são associações entre fatores biológicos ou sociais (cor, renda, religião, escolaridade, orientação sexual, etnia, etc.) e comportamentos, traços de caráter ou condições específicas, como ser incompetente, ser corrupto, ser doente, ser desinteligente, ser violento, entre outras.
Essa associação também pode ser “positiva”. Há quem diga que todo japonês é perito em tecnologia, todo judeu tem boa condição financeira, todo árabe é bom negociador, todo negro é bom atleta e bom cantor.
A preconcepção firmada acerca do outro é uma forma que encontramos de dar previsibilidade às relações e às situações que experienciamos. Quando fundamentada em juízo de valor “positivo”, ela restringe as possibilidades do outro a um reducionismo imposto a ele, limitando suas capacidades.
Quando norteada por juízo de valor negativo, pode gerar situações de exclusão social e mesmo de intolerância, aversão e violência.
Reconhecer e desconstruir as associações mentais entre características e comportamentos específicos é fundamental para que possamos nos desvencilhar das diversas formas de preconceito e criar formas mais justas e humanas de nos relacionar e lidar com o diferente.
AULA COMPLEMENTAR 18
Diferença e desigualdade: Caminhos de descobertas
A diferença entre desigualdade e diferença
Os protestos dos "indignados" da Europa e do movimento Ocupe Wall Street, nos Estados Unidos, colocaram a desigualdade social na agenda internacional.
No Brasil, um dos países com maior disparidade de renda, o tema também está na ordem do dia. Mas, do mesmo modo que se discute o assunto mais abertamente, uma reação em contrário trabalha silenciosamente no sentido de naturalizar as desigualdades, o que dificulta o enfrentamento do problema. E isso se verifica por meio do raciocínio de que, se na natureza há diferenças, a desigualdade é natural. E, se é natural, consequentemente não pode ou não deveria ser superada.
Porém, o argumento da naturalidade da desigualdade é equivocado. Não considera uma sutileza: "diferença" não é o mesmo que "desigualdade", embora os dois termos até sejam usados como sinônimos.
Uma boa distinção entre os dois conceitos é dada pelo historiador brasileiro José D'Assunção Barros. Algo é "diferente" quando sua essência se difere da essência do outro seja no todo ou em algum aspecto particular. A "desigualdade", no entanto, não se refere a essências distintas, mas sim a uma circunstância que privilegia algo ou alguém em relação ao outro, independentemente de os dois serem iguais ou diferentes.
A diferença pode ser tanto nata e natural como cultural. Já a desigualdade as circunstâncias que privilegiam alguns é construída socialmente. E, muitas vezes, implica a ideia de injustiça.
A própria natureza pode ajudar a esclarecer os conceitos e mostrar como a desigualdade não é natural, mas social. Os seres vivos têm códigos genéticos (a essência) diferentes entre si. A diversidade genética coloca as espécies em posições distintas no meio ambiente para competirem entre si pela vida. Alguns animais são caçadores e outros, a caça. Isso é natural. E ninguém discute que haja injustiça na natureza.
Mas, em cada espécie, há compartilhamento de uma mesma genética. Um leão é igual a outro leão, bem como todos os homens são essencialmente iguais entre si. Ou seja, nascem com características comuns que lhes asseguram condições de lutar pela sobrevivência na natureza. A regra natural, portanto, é a igualdade de atributos numa mesma espécie. Os indivíduos largam dispondo de uma mesma genética na corrida pela vida.
Obviamente, há diferenças dos humanos entre si não no todo, mas em aspectos particulares (força, altura, inteligência, sexo). Não é desejável que sejam eliminadas. Essas diferenças levam os homens a resultados diversos em uma disputa justa, em igualdade de condições. Privilégios nas condições de largada levam a vidas igualmente diversas. Mas esses são fruto da sociedade. Não se pode dizer que haja uma desigualdade natural intrínsica. Compreender isso é dar um importante passo para enfrentar a injustiça social.
AULA COMPLEMENTAR 17
Ciências humanas = / Opinião
Ciências humanas refere-se àquelas ciências que têm o ser humano como seu objeto de estudo ou foco, ou seja, são as profissões e carreiras que tratam primariamente dos aspectos humanos.
As ciências humanas são apoiadas na Filosofia (consiste no estudo do Homem e da sociedade), Artes em geral (relacionadas ao entretenimento ou à cultura) e Comunicação (informação, política, linguística).
Geralmente denominada como ciências “não exatas”, as ciências humanas são de grande importância na sociedade. Sem matemática e engenharia não se pode sobreviver, mas não somos máquinas, e sim, humanos, portanto, carecemos de uma formação humanística que conduz a reflexão e ao diálogo.
A ausência de uma formação humanizada tem demonstrado consequências desagradáveis nos diversos campos profissionais, inclusive nas Ciências Humanas, com prejuízos que se acumulam na sociedade.
Perfil dos Estudantes de Ciências Humanas
O perfil dos estudantes de humanas pode ser bastante heterogêneo. Mas dedicação e comprometimento com o estudo são vitais para quem quer se dar bem nessa área. Além disso, foco, concentração e disciplina são fatores pertencentes à realidade dos estudantes de humanas.
Ler e pesquisar é fundamental porque os estudantes precisam conhecer diversos assuntos e ter visão holística das coisas, isto é, procurar compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. Dentre outras características marcantes da área, estão: questionamento constante, senso crítico apurado e conhecimento histórico, cultural e social.
A utilidade das Ciências Humanas na vida profissional, em qualquer área, é muito mais ampla do que se imagina. Como lembrou Leonardo Boff, as Ciências Humanas ampliam a percepção, estimulando a formação de um senso crítico intensamente questionador e transformador.
Já durante o ensino médio, o estudante se esbarra em um impasse cuja escolha mudará parte da sua vida: a profissão.
Para muitos, ainda surge aquela dúvida: escolho humanas ou exatas?
Todas essas incertezas geram angústia e ansiedade. Afinal, a opção por um curso gera grande impacto profissional e pessoal, por isso tudo precisa ser feito com muita reflexão, planejamento e uma dose de maturidade.
Ajudar o povo de humanas a vender miçangas? Ajudar o povo de exatas a fazer planilhas? Ou, ainda, outro caminho, como biológica ou gerenciais? Se você ainda não sabe qual é a sua, então, continue conosco, que vamos chegar lá!
Qual é a diferença entre humanas e exatas?
Humanas e exatas são 2 das 3 principais áreas do conhecimento.
A outra, você sabe, né? É biológicas.
A área de humanas tem foco em estudar a sociedade, a cultura e as relações sociais. Ela olha o mundo com um viés mais reflexivo. Já a área de exatas utiliza o raciocínio lógico para solucionar problemas e testar hipóteses, ou seja, ela vê o mundo com um olhar mais pragmático.
Será que você é de humanas?
Pessoas de humanas costumam gostar de ler e, então, utilizam seu tempo livre para se envolver com diversos tipos de leitura, como livros, gibis, revistas e artigos na internet. Para elas, essa atividade é sinônimo de prazer, seja pela sensação proporcionada, seja pelo conhecimento adquirido.
Elas têm uma tendência a se relacionarem bem com os outros, gostam de se comunicar e de estudar como o ser humano interage em seu meio. Tendem a ser pessoas empáticas e sensíveis, com um olhar humanizado ao próximo, pois procuram entender o modo de ser de cada um.
São, ainda, questionadoras e criativas. Perguntam-se o porquê das coisas e avaliam os efeitos de cada atitude na sociedade. Seus interesses são relacionados a artes, música, história, cultura. Também costumam gostar de palavras e se interessam por filosofar sobre a vida.
Na escola, costumavam gostar de matérias como Português, Redação, História e Artes. E se precisássemos resumir as pessoas de humanas em uma frase, daria mais ou menos isso: para toda explicação, elas têm um porquê.
Exatas combina mais com você?
Pessoas de exatas costumam gostar de novidades tecnológicas, entender o modo de funcionamento das máquinas, planejar e testar hipóteses. Prazer, para elas, é organização. Adoram comparar e calcular hipóteses e tendem a adorar planilhas de Excel.
Elas têm uma tendência a preferir trabalhos individuais, apresentam afinidade com números e não veem dificuldade em realizar análises comparativas dos possíveis resultados de cada escolha antes de tomar alguma decisão. Agir com estratégia é algo habitual a elas.
Gostam mais da prática do que da teoria. Preferem a objetividade à subjetividade. Na escola, costumavam se dar bem em matérias como Física, Matemática e Química.
E, aqui, se fôssemos resumir as pessoas de exatas em uma frase, o resultado seria: para todo por que, elas têm uma explicação.
Como escolher a área ideal?
E agora: humanas ou exatas? As duas áreas são fundamentais à sociedade — e, tanto em uma quanto em outra, qualquer pessoa pode se dar bem, sentindo-se realizada nos estudos e no trabalho.
Na área de humanas, os cursos contarão com muitas leituras e debates nos quais os alunos analisarão pontos de vista sobre determinado comportamento. Um dos objetivos será adquirir visão crítica sobre a sociedade. É comum haver bastante subjetividade nas teorias e, com isso, teses diferentes sobre determinado assunto. Muitas vezes, não existe o argumento mais correto, apenas perspectivas diferentes.
Na área de exatas, o aluno precisará estar preparado para lidar com contas matemáticas o tempo todo. Um dos objetivos será encontrar a melhor solução para determinado problema. Ao contrário das matérias de humanas, nas exatas, existe sempre uma resposta correta.
Algumas dicas
Para saber o que escolher, é interessante, primeiro, que o estudante faça uma análise de si, de suas preferências, suas facilidades e seu modo de agir. Por exemplo, quando criança, qual era a atividade mais interessante? Passar a tarde lendo gibis, ou desmontar um aparelho e entender como ele funcionava? No seu tempo livre, você prefere conversar com amigos ou jogar um game no computador?
Depois, tente se lembrar das matérias com as quais você tinha mais facilidade e dificuldade no colégio. Havia alguma que você nem precisava estudar direito e, ainda assim, conseguia um bom desempenho?
Uma pergunta que costuma nos ajudar a entender melhor nossos sonhos é: se todas as profissões do mundo tivessem exatamente o mesmo salário, em que você trabalharia? Ter essa análise é importante, pois, muitas vezes, temos a tendência de escolher um curso apenas pela retribuição financeira.
No entanto, também é necessário fazer um exame sobre o mercado de trabalho atual e as tendências futuras. Muito tem se falado sobre o impacto da tecnologia nas profissões. É relevante ter isso em mente e se preparar para os possíveis impactos. Por exemplo, a ocupação de professor tem passado por adaptações nesses últimos tempos, com o ensino a distância e a relação virtual com os alunos.
Quais as profissões em alta em cada área?
Antes de optar por alguma área, primeiro, é importante você entender que existem muitas profissões que englobam mais de 1 delas ao mesmo tempo.
O curso de Economia, ou Ciências Econômicas, por exemplo, é considerado parte de humanas e parte de exatas. Ao mesmo tempo em que lida com muitos números, também analisa o impacto das finanças na sociedade e busca maneiras de oferecer melhor qualidade de vida. Assim também é com Arquitetura. A Psicologia, da mesma forma, pode ser contemplada na área de humanas e biológicas, por envolver o estudo de pessoas e da saúde mental.
Saiba quais profissões estão mais em alta!
Humanas
Os principais cursos são:
Exatas
Os principais cursos são:
- Engenharias diversas;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Ciência da Computação;
- Ciências Contábeis.
Estar em dúvida entre humanas ou exatas é comum — e se essa for sua situação, não se desespere! Para afastar qualquer insegurança, outras dicas que damos são conversar com profissionais sobre como eles enxergam a carreira ou, ainda, participar de uma orientação vocacional com um psicólogo especialista.
Além de humanas e exatas, quais são as outras opções a serem consideradas?
Nem só de humanas e exatas é feito o universo acadêmico. Fora essas duas áreas, também existem outras opções e categorias para você escolher, como é o caso das ciências sociais e biológicas.
Biológicas
As ciências biológicas, que vão muito além da Biologia, são variadas e dedicadas à compreensão da vida em todas as suas formas orgânicas, o que inclui as espécies existentes em todos os ecossistemas. Diferentemente do estudo a respeito do comportamento humano, como ocorre nas ciências humanas, nas biológicas, o foco é o homem na sua composição química, por assim dizer.
Todos os elementos que envolvem o corpo humano, tal como o seu funcionamento, são profundamente abordados nessas áreas. Isso também vale para as espécies que nos cercam, incluindo todo tipo de organismo, do micro ao macro.
Entre os cursos mais procurados estão:
Gerenciais
As ciências gerenciais estão inclusas nas Ciências Sociais Aplicadas, que têm por foco estudar os diferentes campos de conhecimento sobre os aspectos sociais das mais variadas realidades dos seres humanos. Em outras palavras, seu objetivo é entender como a sociedade se organiza e como supre suas principais necessidades.
Isso inclui estudos de diferentes naturezas, tais como:
- Ciências Econômicas;
- Comércio Exterior;
- Comunicação Institucional;
- Estatística;
- Relações Públicas;
- Gestão Financeira;
- Gestão Comercial;
- Logística.
É claro que, além dessas opções que listamos até aqui, existem outros grandes campos de conhecimento para serem explorados. Cada um deles possui diversas opções de profissões associadas. Portanto, caso você continue sem se identificar com as opções, vale a pena continuar a busca.
AULA COMPLEMENTAR 16
Direito das mulheres: Conquistas históricas
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar. A lei recebeu esse nome devido à luta de Maria da Penha por reparação e justiça. Acompanhe a trajetória dela até a aprovação a lei:
História da Lei Maria da Penha
Farmacêutica e natural do Ceará, Maria da Penha sofreu constantes agressões por parte do marido. No ano de 1983, seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Maria escapou da morte, mas ficou paraplégica. Quando voltou para casa, após a internação e tratamentos, sofreu uma nova tentativa de assassinato. Dessa vez, o marido tentou eletrocutá-la.
Depois de muito sofrer com o marido, Maria da Penha criou coragem para denunciar o agressor. No entanto, se deparou com um cenário que muitas mulheres enfrentam em casos de violência: incredulidade e falta de apoio legal por parte da justiça brasileira.
Sendo assim, abria-se margem para que a defesa do agressor alegasse irregularidades no processo, mantendo-o em liberdade, enquanto aguardava julgamento.
Com o processo ainda correndo na Justiça, em 1994, Maria da Penha lançou o livro “Sobrevivi…posso contar”, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas.
Com o apoio vindo após a divulgação do livro, Maria acionou o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM). Estes órgãos encaminharam seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998.
Assim, em 2002, o caso foi solucionado, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o Brasil teve que assumir o compromisso de reformular as suas leis e políticas em relação à violência doméstica.
19 anos depois de ter entrado em vigor, a Lei Maria da Penha é considerada um grande avanço pela garantia da segurança e direitos da mulher. Apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar desta lei e houve um aumento de 86% de denúncias de violência familiar e doméstica após sua criação.
Características da Lei Maria da Penha
A Lei ampara todas as pessoas que se identifiquem com o sexo feminino, sendo heterossexuais, homossexuais e mulheres transexuais. Por ser uma lei focada no combate à violência doméstica, também ampara homens que sofram algum tipo de violência por parte da cônjuge ou do cônjuge, ainda que as denúncias nesses casos sejam a minoria.
A vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o companheiro. Se uma pessoa ou parente do convívio da vítima for o agressor, a Lei Maria da Penha também ampara esse cenário.
O que a lei contempla?
A lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstas as situações de violência psicológica como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia.
O que a Lei Maria da Penha garante?
Prisão do suspeito de agressão.
A violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar a pena, não sendo possível substituir a pena por doação de cestas básicas, trabalhos comunitários ou multas. Além disso, o agressor recebe ordem de afastamento da vítima e seus familiares. A vítima também recebe assistência financeira, no caso de ser dependente do agressor.
Auxílio às vítimas de violência
Com a aprovação da lei, o governo brasileiro disponibilizou o canal de atendimento 180, voltado para denúncias sobre violência contra a mulher. O canal pode ser utilizado tanto pela vítima, quanto por alguém que identifique as agressões sofridas por uma mulher.
5 fatos sobre a Lei Maria da Penha
- A Lei Maria da Penha criou o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua finalidade é trazer um atendimento mais célere para a mulher e resolver ações cíveis e criminais em uma mesma vara;
- A lei proíbe a aplicação da lei dos juizados à violência doméstica;
- Também trouxe medidas protetivas de urgência, que protegem a vítima da violência doméstica. Com essas medidas, por exemplo, pode-se exigir que o agressor não viva mais na mesma casa que a vítima, entre outras possibilidades;
- O crime de lesão corporal leve será objeto de apuração e processo, mesmo que a vítima não queira;
- A mulher agredida tem direito à assistência em múltiplos setores, como psicológico, social, médico e jurídico.
Principais lutas das mulheres na História
As conquistas femininas no Brasil e no mundo:
1792: a mulher começa a exigir seu direito ao voto na Inglaterra, além de ser o ano em que Mary Wollstonecraft escreveu A Vindication of the Rights of Woman, defendendo educação para meninas aproveitarem seu potencial.
1827: a primeira lei sobre educação para mulheres é proclamada no Brasil mas, restringindo o acesso às escolas elementares.
1832: Nísia Floresta traduz a obra de Wollstonecraft sob o título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Trazendo tradução e suas próprias traduções, é considerada como a primeira feminista brasileira.
1857: na cidade de Nova York, 129 operárias de uma indústria têxtil morrem queimadas em ação policial ao reivindicarem a redução da jornada de trabalho para 10h diárias, além da licença maternidade. Mais tarde, o dia 08 de março foi declarado como o Dia Internacional da Mulher.
1862: as mulheres suecas votam pela primeira vez.
1869: criada a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres, nos Estados Unidos.
1879: as mulheres brasileiras conseguem o direito de frequentar instituições de ensino superior, mesmo sob críticas da sociedade.
1885: Chiquinha Gonzaga estréia como a primeira maestrina brasileira.
1887: Rita Lobato Velho forma-se como a primeira médica brasileira.
1893: as mulheres neozelandesas conquistam o direito ao voto.
1915: a Caixa Econômica Federal institui novo regulamento que permitia à mulheres casadas ter seus próprios depósitos bancários, desde que não houvesse a objeção do marido.
1917: Deolinda Daltro, professora e fundadora do Partido Republicano Feminino, lidera passeata exigindo que o voto fosse estendido às mulheres.
1920: acontece, nos Estado Unidos, o movimento das sufragistas.
1922: fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), por Bertha Lutz, a principal articuladora feminista do período.
1923: as mulheres japonesas conquistam o direito de participar de academias de artes marciais.
1928: Juvenal Lamartine, governador potiguar, consegue alterar lei eleitoral para dar direito de voto às mulheres, no entanto, os mesmos acabaram anulados. No mesmo ano, a primeira prefeita da história brasileira foi eleita: Alzira Soriano de Souza, em Lajes (RN).
1932: o novo Código Eleitoral Brasileiro é, finalmente, promulgado por Getúlio Vargas, dando direito ao voto para as mulheres. No mesmo ano, Maria Lenk seguiu para Los Angeles como a única mulher da delegação olímpica daquele ano.
1934: eleita a primeira deputada do país, Carlota Pereira Queiróz. No período da Segunda Guerra, surgiu a imagem da operária Geraldine Hoff, simbolizando a luta das mulheres que assumiram os postos de trabalham no lugar dos homens que foram para o conflito. O tema criado foi Yes, we can do it.
1945: a Carta das Nações Unidas reconhece, em documento internacional, a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
1948: delegação feminina segue para as Olimpíadas de Londres com 11 mulheres, após 12 anos de hiato.
1949: Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo, analisando a condição feminina, no mesmo ano em que acontecem os Jogos da Primavera ou, Olimpíadas Femininas.
1951: a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova a igualdade de remuneração entre homens e mulheres em funções iguais.
1960: Maria Esther Andion Bueno é a primeira mulher a vencer quatros torneios do Grand Slam de tênis.
1961: criada a primeira pílula anticoncepcional via oral. Tratou-se de uma revolução de costumes e liberdade sexual.
1962: o Estatuto da Mulher Casada é aprovado no Brasil, resguardando que mulheres casadas não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar fora de casa, além do direito de requerer a guarda dos filhos na separação.
1974: Isabel Perón torna-se a primeira mulher presidente de uma nação, a Argentina.
1975: proclamado o Ano Internacional da Mulher e, no mesmo ano, foi realizada a I Conferência Mundial sobre a Mulher, na qual foi criado um plano de ação.
1979: neste mesmo ano, Eunice Michilles tornou-se a primeira senadora do Brasil, a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pela Assembleia Geral e equipe feminina de judô se inscreveu em campeonato sul-americano.
1980: criado o lema Quem ama, não mata, em meio à criação de centros de autodefesa para coibir a violência contra a mulher.
1983: Minas Gerais e São Paulo tornam-se os primeiros estados a criar conselhos estaduais da condição feminina para discutir políticas públicas. No mesmo ano, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. No mesmo ano, Sally Ride tornou-se a primeira mulher astronauta.
1985: criada a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, em São Paulo, além da aprovação do projeto de lei que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no intuito de eliminar a discriminação e aumentar a participação feminina nas atividades políticas, econômicas e culturais.
1987: criado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro.
1988: avanços na Constituição Brasileira por meio do lobby do batom, garantindo direitos e deveres iguais entre homens e mulheres perante a lei.
1993: a Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, destaca direitos e violência contra a mulher, gerando a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher.
1994: Roseana Sarney é eleita como a primeira governadora de um estado brasileiro, o Maranhão, sendo reeleita quatro anos depois.
1996: instituído o sistema de cotas na Legislação Eleitoral brasileira, garantindo a inscrição mínima de 20% nas chapas. Neste mesmo ano, Nélida Piñon é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
1998: Benedita da Silva torna-se a primeira mulher a presidir uma sessão do Congresso Nacional.
2003: Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente.
2005: Angela Merkel eleita a nova chanceler alemã, a primeira mulher a ocupar o cargo na história.
2006: sancionada a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), que aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Com ela, homens podem ser presos em flagrante ou ter prisão preventiva decretada. No mesmo ano, o Parlamento Paquistanês mudou a lei islâmica sobre o estupro, retirando-o das leis religiosas e o incluindo no código penal. Anteriormente, caso a mulher não apresentasse “quatro bons muçulmanos HOMENS” como testemunhas, seria acusada de adultério.
2010: Dilma Roussef eleita como a primeira presidente mulher do Brasil.
2015: sancionada a Lei do Feminicídio, colocando o assassinato de mulheres entre crimes hediondos.
AULA COMPLEMENTAR 15
O que seria de vcs sem a gente.
28 de junho de 1969, Stonewall Inn, Greenwich Village, Estados Unidos.
A história começa nas primeiras horas da manhã, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentam policiais e iniciam uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo.
O episódio, conhecido como Stonewall Riot (Rebelião de Stonewall), teve duração de seis dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova Iorque.
Este episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo e, por isso, é comemorado mundialmente em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uma data para celebrar vitórias históricas, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido.
VIOLÊNCIA: UMA LINHA DO TEMPO
Os primeiros registros históricos da homossexualidade datam de 1.200 A.C.
Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a homossexualidade foi aceita em diversas civilizações ao longo da história. Apesar disso, em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais foram e ainda são constantemente violentados, presos, torturados e mortos, sem proteção das leis, que podem ser omissas, conter brechas ou até mesmo respaldar a violência contra essa comunidade.
O primeiro código penal contra a homossexualidade data do século XIII e pertenceu ao império de Gengis Khan, onde a sodomia era punida com a morte.
No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexuais, ambas redigidas sob influência da Inquisição, foram publicadas em 1533: o Buggery Act (Inglaterra) e o Código Penal de Portugal. A partir disso, leis anti-homossexuais se espalharam por diversos países do Ocidente que, por sua vez, as impuseram às suas colônias.
No século XIX, há um caso emblemático: o do escritor inglês Oscar Wilde, condenado a trabalhos forçados e à prisão por se relacionar afetivamente com o filho de um importante lorde inglês.
Durante os últimos dois séculos, a violência, institucional ou não, continuou perseguindo os LGBTs: no nazismo, eles eram levados aos campos de concentração.
Dois símbolos do movimento surgem aí: o triângulo rosa invertido, utilizado para identificar homens gays, e o triângulo preto invertido, destinado às “mulheres anti-sociais”, grupo que incluía as lésbicas.
Teorias médicas e psicológicas tratavam a homossexualidade como uma doença mental que podia ser curada através de métodos de tortura, como a castração, a terapia de choque, a lobotomia e os estupros corretivos.
Símbolos no nazismo.
É importante frisar que essas violências não pertencem ao passado distante: até os anos 60, a homossexualidade ainda era ilegal em todos os estados dos EUA, com exceção de Illinois.
Alan Turing, o pai da computação retratado no filme “O jogo da imitação”, foi quimicamente castrado sob ordens do governo inglês em 1952, por exemplo. Em diversos países, comunidades terapêuticas particulares continuam a oferecer serviços de “cura gay”.
Ainda nesta década, a relação homossexual é crime em 73 países. Dessa lista, 13 nações preveem pena de morte como penalidade. No Brasil, de acordo com os dados de 2016 do Grupo Gay da Bahia (GBB), um LGBT é assassinado a cada 24 horas.
A rebelião de Stonewall teve uma série de consequências. No Livro “Stonewall: the riots that sparked the gay revolution”, o historiador David Carter afirma que há um amplo consenso de que foi essa rebelião que marcou o início do Gay Rights Movement (em tradução livre, movimento pelos direitos gays).
Uma das consequências de Stonewall foi a criação de dois grupos que desempenharam um papel importante na história do movimento LGBT: o Gay Liberation Front (GLF) e o Gay Activists Alliance (GAA).
O MOVIMENTO CHEGA AO BRASIL
No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio a ditadura civil-militar (1964-1985). As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas, duas se destacam: os jornais Lampião da Esquina e ChanacomChana.
O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era abertamente homossexual, embora abordasse também outras questões sociais. O periódico frequentemente denunciava a violência contra os LGBTs.
Em 1981, um grupo de lésbicas fundou o ChanacomChana, que era comercializado no Ferro’s Bar, frequentado por lésbicas. A venda do jornal não era aprovada pelos donos do local, que, em 1983, expulsaram as mulheres de lá.
No dia 19 de agosto do mesmo ano, lésbicas, feministas e ativistas LGBTs se reuniram no Ferro’s, onde fizeram um ato político que resultou no fim da proibição da venda do jornal. Este episódio ficou conhecido como o “Stonewall brasileiro” e, por causa dele, no dia 19 de agosto comemora-se o Dia do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo.
Na década de 80, o comunidade LGBT sofreu um grande golpe. No mundo todo, uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs e alterou significativamente as organizações políticas do movimento.
A síndrome trouxe de novo um estigma para a comunidade, agora vista como portadora e transmissora de uma doença incurável, à época chamada de “câncer gay”. As consequências dessa crise são sentidas até hoje.
O SIGNIFICADO DA SIGLA
A sigla “GLS” (Gays, lésbicas e simpatizantes) caiu em desuso. Organizações internacionais como a ONU e a Anistia Internacional adotam a sigla “LGBT” (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais).
Dentro do movimento propriamente dito, as siglas podem variar (algumas organizações usam LGBT, outras LGBTT, outras LGBTQ…). Atualmente, a versão mais completa da sigla é LGBTPQIA+. Conheça a representação de cada letra:
L: Lésbicas
G: Gays
B: Bissexuais
T: Travestis, Transexuais e transgêneros
P: Pansexuais
Q: Queer
I: Intersex
A: Assexuais
+: Sinal utilizado para incluir pessoas que não se sintam representadas por nenhuma das outras sete letras.
PRINCIPAIS PAUTAS
É difícil afirmar quais são as principais pautas do movimento LGBT, já que cada país tem um contexto político e social e não há unanimidade nem mesmo dentro do movimento. Apesar disso, essas são algumas
das pautas, no Brasil e no mundo:
- Criminalização da homo-lesbo-bi-transfobia;
- Fim da criminalização da homossexualidade (e consequentemente das punições previstas pelas leis que criminalizam a prática);
- Reconhecimento da identidade de gênero (que inclui a questão do nome social);
- Despatologização das identidades trans;
- Fim da “cura gay”;
- Casamento civil igualitário;
- Permissão de adoção para casais homo-afetivos;
- Laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política;
- Leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos, como escolas e empresas;
- Fim da estereotipação da comunidade LGBT na mídia (jornais e entretenimento), assim como real representatividade nela.
AULA COMPLEMENTAR 14
Eu quero uma casa no campo.....ou na cidade
Movimentos rurais
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) surgiu oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, no Paraná. É importante observar que se trata do período da Ditadura Militar, um regime que aprofundou as desigualdades sociais no país.
Além disso, em 1984 estava em curso o processo de abertura para a redemocratização do país, o que possibilitou a emergência de movimentos sociais, duramente reprimidos nas décadas anteriores.
Mas os movimentos por terra no Brasil não eram exatamente novidade. Eles existem desde o início do século XX, como forma de manifestação popular e combate à desigual distribuição de terra — uma característica histórica do país, em função de nossa estrutura latifundiária. Ao longo do tempo, esses movimentos tornaram-se mais unificados e organizados, originando o MST.
Objetivos do movimento
O MST declara que seus objetivos principais, sintetizados no lema “terra para quem nela trabalha”, são:
- Lutar pela terra;
- Lutar pela Reforma Agrária;
- Lutar por mudanças sociais no país
Em suma, a demanda central do Movimento é pela Reforma Agrária.
Formas de atuação
A mobilização do Movimento se dá por meio de marchas e ocupações — que estabelecem os acampamentos do MST.
Os acampamentos consistem na ocupação de propriedades de terra em situação irregular/ilegal (fica tranquilo, vamos explicar isso logo mais).
Nessa propriedade, as famílias que fazem parte do Movimento instalam acampamento, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Nos acampamentos, as famílias desenvolvem agricultura familiar e em forma de cooperativas.
Quando a terra é desapropriada pelo Governo (ou seja, quando o governo reconhece que a propriedade está irregular), ela é concedida àquelas pessoas que ali estão vivendo e produzindo. À esse estágio em que as famílias que vivem naquele acampamento do MST ganham os direitos sobre a terra, dá-se o nome de assentamento, um processo que costuma levar anos.
Atualmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra organiza-se em 24 estados por todo o país, é composto por mais de 350 mil famílias, possui mais de 2 mil escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina.
REFORMA AGRÁRIA: O GRANDE OBJETIVO DO MST
Uma Reforma Agrária consiste em uma reorganização das terras no campo. Ou seja, é quando grandes propriedades de terra são divididas em propriedades menores e redistribuídas. É importante ter em mente que há mais de um modelo de reforma agrária.
Uma reforma agrária estrutural é quando o Estado decide substituir o modelo agrário latifundiário (com grandes propriedades de terra) por um modelo mais igualitário. Essa substituição é feita através de um processo de reforma agrária.
Outro modelo é o da distribuição de terras que não cumprem sua função social. Ou seja, o Estado determina uma função social para as propriedades de terra (alguns pré requisitos que qualquer propriedade deve seguir) e, caso o proprietário da terra não as respeite, a propriedade é redistribuída. Esse é o modelo adotado no Brasil.
Quem é contra e quem é a favor da reforma agrária?
Reforma Agrária no Brasil
Em 1964, no governo de João Goulart, foi criado o Estatuto da terra. Esse estatuto determina como a reforma agrária é entendida no Brasil:
O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.
Qual a função social da terra no Brasil?
O Estatuto também estabelece a função social que as propriedades rurais de terra devem cumprir no Brasil:
● aproveitamento racional e adequado;
● utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
● observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
● exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores (Art. 186).
No caso de não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de desapropriação (mediante a indenização) para fins de reforma agrária (Art. 184).
Na prática, isso significa que o Estado desapropria grandes latifúndios que não cumprem com sua função social e realiza sua redistribuição entre pequenos agricultores e camponeses sem terra. O responsável por realizar esse processo é o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), fundado em 1970.
Mas então a reforma agrária já existe?
Não exatamente. Como mencionamos, nunca ocorreu uma reforma estrutural no Brasil, ou seja, um processo para efetivamente redistribuir a terra de forma mais igualitária. O que existe no Brasil é apenas a redistribuição das grandes propriedades que estão em situação irregular.
Ainda assim, esse processo de desapropriação e redistribuição se dá de forma muito lenta, fazendo com que milhares de famílias permaneçam na situação de acampamento em terras irregulares aguardando o assentamento (quando o INCRA reconhece o direito sobre a área). Em 2017, de acordo com o Instituto, nenhuma família foi assentada.
Os acampamentos do MST são uma forma de pressionar pela desapropriação das terras irregulares. Mas a demanda do Movimento vai além disso, eles desejam um processo mais amplo de reforma agrária.
ALVO DE MUITAS CRÍTICAS
O Movimento encontra bastante resistência por parte da população, e é alvo de críticas frequentes.
Um dos argumentos utilizados é de que o MST luta por modo de vida antiquado, buscando levar o Brasil de volta ao passado. Como o Movimento é formado por trabalhadores rurais que demandam propriedade de terra para realizar agricultura familiar ou cooperativa, alguns críticos entendem que trata-se de um movimento anti progresso, e argumentam que o Estado deveria colocar essas pessoas para trabalhar nas cidades.
O principal argumento contra o Movimento é de que seus participantes seriam invasores de terra. Esse argumento divide-se em dois:
- Há aqueles que defendem que qualquer acampamento do MST é uma invasão de terra e fere o direito à propriedade do dono da terra;
- Também há quem acuse o Movimento de invadir ilegalmente propriedades que não estão irregulares. No caso da fazenda Esmeralda em Duartina, por exemplo, a propriedade foi ocupada pelo MST, mas a justiça determinou a reintegração de posse da propriedade ocupada. Ou seja, a justiça reconheceu que a propriedade estava regular e, dessa forma, a ocupação estava violando o direito de posse do proprietário.
A própria Reforma Agrária, objetivo central do MST, também recebe várias críticas. Consequentemente, aqueles que são contrários à Reforma são também contrários a esse movimento. Alguns argumentam que a pobreza, miséria e fome não seriam resolvidas com a redistribuição das terras, e citam o exemplo da antiga URSS, que redistribuiu a terra mas não teve sucesso em eliminar a pobreza.
Outra crítica frequente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é de que este movimento seria um projeto anticapitalista e que prega a doutrinação marxista da sociedade. Muitos acreditam que a redistribuição da terra seria apenas o primeiro passo para entregar o Brasil ao comunismo.
Frequentemente os críticos ao MST referem-se a ele como um movimento terrorista. Essa denominação tem gerado controvérsia pois possibilita a criminalização do movimento, através da Lei Antiterrorismo.
LUA EM SAGITÁRIO: O MOVIMENTO POR TERRA NO CINEMA
Dirigido pela catarinense Marcia Paraiso, “Lua em Sagitário” se passa no Oeste de Santa Catarina e narra um romance entre um menino que vive em um assentamento do MST e uma menina filha de comerciantes que detestam os assentamentos.
MTST: O QUE É ESSE MOVIMENTO?
O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi fundado em 1997, como uma versão urbana do MST. O Movimento declara que seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia.
O movimento atua nas grandes capitais do país, onde organiza trabalhadores urbanos na luta por teto. As ações do MTST consistem em ocupar imóveis que se encontram em situação de irregularidade, com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis (a desapropriação ocorre quando a justiça pública considera que uma propriedade está irregular e, por isso, o proprietário perde a o direito de propriedade sobre ela).
De acordo com o Movimento, mais de 55 mil famílias passaram pelas ocupações em 20 anos. Guilherme Boulos, atual presidente do MTST, explica que o movimento é majoritariamente formado por pessoas que não conseguiram pagar os altos preços dos aluguéis nas grandes capitais, pessoas que moravam em áreas de risco ou que foram despejadas.
QUAL A DIFERENÇA ENTRE MTST E O MST?
Frequentemente essas duas siglas são usadas como sinônimos ou são atribuídas características de um movimento ao outro. De fato estes são dois movimentos sociais com diversos pontos em comum, mas não são a mesma coisa.
De certa forma, ambos são movimentos por moradia, mas um luta por terra e outro luta por casa. Conforme mencionamos anteriormente, o MTST pode ser entendido como uma vertente urbana do MST.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como o o próprio nome indica, é formado por trabalhadores do campo que não possuem terra para habitar e cultivar.
Este movimento social considera injusta a desigualdade de terra que existe no campo, na qual poucas pessoas possuem grandes propriedades enquanto muitas outras não têm acesso à terra. Por isso, o MST luta pela Reforma Agrária, ou seja, por uma distribuição mais igualitária da terra.
O MST apoia-se no princípio da função social da terra, estabelecida pela Constituição Federal. E grande parte de suas ações objetivam pressionar pelo cumprimento dessa lei.
Mais recente, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é formado por trabalhadores urbanos que se encontram na situação sem teto, ou seja, não possuem moradia própria e/ou não conseguem pagar aluguel.
Este movimento social protesta contra a desigualdade habitacional nas cidades, onde poucas pessoas possuem mais de um imóvel enquanto muitas estão sem teto. Por isso, eles pedem por uma Reforma Urbana.
O Movimento luta pelo direito à moradia, estabelecido pela Constituição Federal, como veremos à seguir.
O QUE A LEI BRASILEIRA DIZ SOBRE MORADIA?
A Constituição Federal de 1988 estabelece a moradia como um direito social:
Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
A Constituição também afirma que todo cidadão tem direito à um salário mínimo que seja suficiente para garantir sua moradia:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
Por fim, também o Artigo 23 reafirma o dever do Estado com relação ao direito à moradia:
Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
E como fica o direito à propriedade?
O direito à propriedade é garantido pelo Artigo 5° da Constituição, e está condicionado à função social da propriedade. Isso significa que para ter seu direito de propriedade garantido, o proprietário deve respeitar a função social que ela deve exercer.
Mas afinal, qual a função social da propriedade urbana?
A Constituição Federal de 1988 em si não trata dessa questão, por isso foi criado o Estatuto da Cidade em 2001. Esse estatuto determina que uma propriedade cumpre sua função social quando respeita as diretrizes do Plano Diretor de sua cidade.
Quando esse cumprimento não ocorre, a desapropriação é uma possibilidade.
Ou seja, se a propriedade não cumpre o que o plano diretor estabelece, ela está sujeita a um processo de desapropriação (mas o proprietário não sai de mãos abanando, não! ele recebe uma indenização em dinheiro).
Mas, afinal, o que faz uma propriedade estar irregular? Basicamente, é considerada irregular a propriedade que está ociosa, abandonada, que não cumpre função alguma.
O DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL
De acordo com um levantamento da ONU, 33 milhões de brasileiros não têm onde morar. No início de 2018, eram 6,69 milhões de famílias sem casa no Brasil, e 6,05 milhões de imóveis vazios.
Esse déficit habitacional tem como principais fatores: os altos preços imobiliários (ou seja, custa caro comprar um imóvel ou pagar um aluguel); e os baixos salários. Ou seja, para muitas dessas famílias pagar um aluguel ou financiamento de um imóvel comprometeria uma grande parcela de sua renda familiar.
Nos últimos anos, o preço dos alugueis tem crescido muito em todo o Brasil. De acordo com o índice fipezap, entre 2008 e 2014 o preço do aluguel aumentou em 97% em São Paulo e 144% no Rio de Janeiro.
Para amenizar esse cenário, o MTST pede que o Governo Federal adote uma maior fiscalização e regulamentação dos preços do mercado imobiliário.
Algumas iniciativas do governo federal visaram a redução do déficit habitacional, à exemplo do programa Minha casa, Minha vida. Entretanto, especialistas argumentam que o programa foi pouco eficaz porque não coloca como prioridade as famílias de baixa renda (até 3 salários mínimos).
REFORMA URBANA
No centro da luta do MTST está a demanda por uma reforma urbana. Mas, afinal, o que isso significa? A reforma urbana objetiva democratizar o território da cidade. Para isso, a reforma incluiria políticas para:
- conter a especulação imobiliária (que resulta na elevação do custo de moradia);
- combater a propagação de enormes lotes ociosos no meio de cidades e promover o melhor aproveitamento desse espaço;
- garantir o acesso à infraestrutura para além das áreas nobres da cidade (por exemplo, levar saneamento básico para a periferia).
A reforma urbana é menos conhecida e também menos institucionalizada do que a Reforma Agrária. Não existe um instituto semelhante ao INCRA (Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para tratar da questão do déficit habitacional urbano. Dessa forma, lidar com esse problema acaba sendo uma responsabilidade do planejamento urbano de cada município.
CRÍTICOS AO MOVIMENTO
Frequentemente são atribuídos ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto termos como “terroristas” e “invasores”.
Para muitas pessoas, o MTST não deve entendido como um movimento social como qualquer outro e, consequentemente, não deve ter a liberdade de um movimento social. A razão para isso é que, de acordo com os críticos, o MTST viola o direito à propriedade privada.
Parte desses críticos entendem que o direito à propriedade privada é incondicional, ou seja, não aceitam a condição da função social estabelecida pela Constituição Federal. Outros, por desconheceram a condição da função social da propriedade, acreditam que o Movimento atua completamente na ilegalidade.
Além disso, muitos críticos também acusam o MTST de manipular pessoas sem teto, forçando-as a comparecer em protestos e cobrando aluguéis de pessoas que vivem nos imóveis ocupados pelo Movimento.
Conforme mencionamos, o déficit habitacional no Brasil é um problema crescente. Por isso, é provável que movimentos por moradia como as ocupações do MTST continuem crescendo.
AULA COMPLEMENTAR 13
Trabalhador sim senhor.
Movimentos sindicais e operários
O surgimento do sindicalismo está ligado ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo na Europa a partir do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial.
A época foi marcada pelas péssimas condições de vida e trabalho às quais estava submetida boa parte da população europeia.
As relações sociais nessa época atingiram uma enorme polarização, com a sociedade dividida em duas grandes classes: a burguesia e o proletariado. É nesse momento que fica evidente o antagonismo de interesses entre elas.
Com o tempo, trabalhadores passaram a se organizar como meio de confrontar empregadores e questionar a situação da época. Os primeiros indícios de união entre trabalhadores aparecem com a quebra de máquinas fabris como forma de resistência, movimento conhecido como ludismo. A motivação era a visão dos trabalhadores de que estariam sendo substituídos pela maquinaria nas indústrias.
Mais tarde, o Parlamento Inglês aprovou em 1824 uma lei estendendo a livre associação aos operários, algo que antes era permitido somente às classes sociais dominantes. Com isso, começam a ser criadas as trade unions, organizações sindicais equivalentes aos atuais sindicatos.
As trade unions passam então a negociar em nome do conjunto de trabalhadores, unificando a luta na busca por maiores direitos e salários. A ideia era evitar que os empregadores pudessem exercer pressão sobre trabalhadores individualmente.
Outras medidas das trade unions foram a fixação de salário para toda a categoria, inclusive regulamentando-o em função do lucro (assim, o aumento da produtividade industrial resultava também em aumento no salário dos trabalhadores), criação de fundos de ajuda para trabalhadores em momentos de dificuldades, além da reunião das categorias de uma região em uma só federação.
No ano de 1830, os operários ingleses formam a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, que se constitui como uma central de todos os sindicatos.
COMO SURGIRAM OS SINDICATOS NO BRASIL?
A história de formação dos sindicatos no Brasil é influenciada pela migração de trabalhadores vindos da Europa para trabalhar no país. No final do século XIX, a economia brasileira sofre uma grande transformação, marcada pela abolição da escravatura e a Proclamação da República.
Neste momento, a economia brasileira deixa de se concentrar na produção de café e cede espaço para as atividades manufatureiras, surgidas nos centros urbanos e no litoral brasileiro.
A abolição da escravidão, substituída pelo trabalho assalariado, atrai um grande número de imigrantes vindos da Europa, que ao chegar se depararam com uma sociedade que oferecia pouquíssimos direitos aos trabalhadores, ainda marcada pelo sistema escravocrata.
Estes novos trabalhadores possuíam experiência de trabalho assalariado e relativos direitos trabalhistas já conquistados em seu antigo país. Assim, rapidamente essas pessoas começaram a formar organizações.
As primeiras formas de organização foram as sociedades de auxílio-mútuo e de socorro, que objetivavam auxiliar materialmente os operários em períodos mais difíceis.
Em seguida, são criadas as Uniões Operárias, que com o advento da indústria passam a se organizar de acordo com seus diferentes ramos de atividade. Surgia assim o movimento sindical no Brasil.
O SINDICALISMO NA ERA VARGAS
Por certo tempo, o sindicalismo no Brasil era ditado por iniciativas dos trabalhadores ou de grupos com perfil político-ideológico mais definido, como os partidos políticos.
De forma geral, essas iniciativas eram tomadas pelos trabalhadores em sua heterogeneidade, concebido por uma inspiração autônoma. Essa dinâmica muda com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, quando o presidente passa a submeter os sindicatos ao controle do Estado.
É com esse intuito que Vargas cria o Ministério do Trabalho em 1930, em conjunto com uma série de normas, como o decreto 19.770 de 1931, que estabelecia:
- o controle financeiro do Ministério do Trabalho sobre os recursos dos sindicatos, inclusive proibindo a utilização destes recursos em períodos de greve;
- a participação do Ministério nas assembleias sindicais;
- que atividades políticas e ideológicas não poderiam existir por parte dos sindicatos;
- veto à filiação de trabalhadores a organizações sindicais internacionais;
- proibição da sindicalização dos funcionários públicos;
- definição do sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o Estado;
- participação limitada dos operários estrangeiros nos sindicatos. Este era um ponto bastante problemático, já que boa parte das lideranças sindicais ainda era de origem estrangeira;
- garantia de sindicato único por categoria, a chamada unicidade sindical.
Mas não foi só isso. Em seu governo, Getúlio Vargas foi responsável por uma série de outras medidas relacionadas à vida dos trabalhadores. Vamos lembrar que foi no regime varguista a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dos institutos de Previdência Social.
Ainda assim, o período do getulismo foi marcado por intensas greves de trabalhadores e pela crescente luta sindical. Nos anos 40, o movimento volta a ganhar forças, mesmo em meio a restritivas leis impostas por Vargas, que continuaram vigentes mesmo após o fim do Estado Novo, em 1945.
Mas é durante os anos 1960 que a luta sindical atinge seu ápice, com imensas manifestações grevistas e a realização do III Congresso Sindical Nacional, quando foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). No campo, as lutas também se intensificaram com a criação das ligas camponesas, onde aos poucos cresciam os sindicatos rurais.
Mas o crescimento do movimento sindical é interrompido com o golpe militar em 1964, quando o movimento dos trabalhadores volta a ser perseguido e a existir sob total controle do Estado. Após isso, o sindicalismo volta a ganhar forças somente no fim dos anos 1970, quando retomam as greves em diversas fábricas no estado de São Paulo.
A motivação das greves foi o movimento pela reposição dos 31%: o governo até então vinha mascarando os índices de inflação, o que gerou grandes perdas salariais. A manobra foi denunciada pelo Banco Mundial em 1977, o que despertou a revolta nos trabalhadores.
A jornada de luta nos anos 1970 inseriu o movimento operário no cenário político, econômico e social brasileiro, levando a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT), que passaram a organizar diversas greves gerais nos anos 1980 e desempenharam importante papel em movimentos políticos como as Diretas Já.
OS SINDICATOS BRASILEIROS APÓS A REDEMOCRATIZAÇÃO
A Constituição Federal de 1988, criada no período da redemocratização, trouxe mais liberdade ao movimento sindical, retirando regras como a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho para funcionamento de um sindicato e possibilitando a sindicalização dos servidores públicos.
Contudo, muitas das heranças do período varguista continuaram a aparecer, como o imposto obrigatório e a unicidade sindical. Essas estruturas continuam em debate até hoje, já que muitos questionam se elas beneficiam os trabalhadores e se haveria necessidade de uma reforma sindical.
Hoje, existem mais de 17 mil sindicatos no país, e o ritmo de criação de novos sindicatos é forte. Entre 2005 e 2013, surgiram mais de 2 mil deles, segundo o jornal O Globo.
A grande quantidade leva a críticas sobre o sindicalismo brasileiro hoje, pois boa parte dos sindicatos seria, na visão de críticos, não representativa – ou pior, apenas mais uma forma de receber dinheiro público.
AULA COMPLEMENTAR 12
Se organizar direito gente evita ou começa
uma revolta PLAY
A Revolta da Vacina
Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a idéia de ser inoculado com esse líquido. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas.
No Brasil, o uso de vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa resolução não era cumprida, até porque a produção da vacina em escala industrial no Rio só começou em 1884.
Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens etc.
Após intenso bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu de catalisador para um episódio conhecido como Revolta da Vacina. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade: ele foi às ruas da capital da República protestar. Mas a revolta não se resumiu a esse movimento popular.
Toda a confusão em torno da vacina também serviu de pretexto para a ação de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves – típico representante da oligarquia cafeeira. “Uniram-se na oposição monarquistas que se reorganizavam, militares, republicanos mais radicais e operários. Era uma coalizão estranha e explosiva”, diz o historiador Jaime Benchimol.
Em 5 de novembro, foi criada a Liga Contra a Vacinação Obrigatória. Cinco dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. No dia 11, já era possível escutar troca de tiros. No dia 12, havia muito mais gente nas ruas e, no dia 13, o caos estava instalado no Rio. “Houve de tudo ontem.
Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados”, dizia a edição de 14 de novembro de 1904 da Gazeta de Notícias.
Tanto tumulto incluía uma rebelião militar. Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha enfrentaram tropas governamentais na rua da Passagem. O conflito terminou com a fuga dos combatentes de ambas as partes. Do lado popular, os revoltosos que mais resistiram aos batalhões federais ficavam no bairro da Saúde. Eram mais de 2 mil pessoas, mas foram vencidas pela dura repressão do Exército.
Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos em menos de duas semanas de conflitos, Rodrigues Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. “Todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou, depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina”, explica Benchimol.
Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso à Revolta da Vacina.
Detalhe: de acordo com estudiosos, somente no XX a varíola pode ter sido a causa de, aproximadamente, 500 milhões de mortes.
A doença é considerada atualmente erradicada, e isso foi possível somente após o surgimento de uma vacina específica e um amplo plano de vacinação criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O último caso dessa doença no mundo foi registrado em 1978, mas, no Brasil, a erradicação já havia acontecido em 1972. A erradicação mundial foi reconhecida oficialmente pela OMS em 1980.
Hoje 105 anos depois da Revolta da Vacina, muita gente seguindo o exemplo de governantes irresponsáveis, calcadas em boatos (hoje, fake news), se organizam contra a vacinação contra a COVID 19.
A Revolta da Chibata
A Revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha brasileira no começo do século XX.
O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação.
O uso da chibatada como forma de punição era uma característica que a Marinha brasileira havia herdado da Marinha portuguesa do período colonial a partir de um código conhecido como Artigos de Guerra. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados, em geral, por negros e mestiços.
A insatisfação dos marujos com os castigos físicos e com o rigor da Marinha era crescente. Relatos contam que, pouco antes da revolta, durante uma viagem nas proximidades da costa chilena, os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo. O estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico.
Além disso, há de se considerar que os contatos dos marujos com estrangeiros também fortaleceram essa insatisfação se considerarmos que Marinhas de outras nações não possuíam a mesma prática (de castigar fisicamente) com os marujos. Também se deve considerar que, cerca de um ano antes da revolta, o líder do motim, João Cândido, havia estado na Inglaterra e tido conhecimento dos acontecimentos do Encouraçado Potemkin, em que marujos russos rebelaram-se contra o governo de seu país.
Sobre a Revolta da Chibata, é importante considerar que ela não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos. Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres, que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. Assim, a Revolta da Chibata é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo.
João Cândido Felisberto liberou a Revolta da Chibata.
João Cândido e os outros marujos, até então anônimos e subalternos, viraram notícia e obrigaram os poderosos a ceder. Durante cinco dias, a capital do Brasil esteve sob sua posse e, na medida em que conquistaram seu principal objetivo, que era o fim dos castigos corporais, saíram vitoriosos.
Pressionado tanto pelas ameaças dos marujos quanto de políticos, o governo de Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos na Marinha em 26 de novembro de 1910 e prometeu anistia a todos os envolvidos. A promessa do governo não foi cumprida e, no dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de mil marinheiros por indisciplina.
João Cândido foi preso, interrogado e, às vésperas do Natal de 1910, levado para a Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras (RJ), onde ficava o Batalhão Naval.
Em um calabouço onde só cabiam seis prisioneiros, dividiu a solitária com 17 companheiros. Ali, os marujos ficaram por três dias, sem ter o que comer ou beber e debaixo de um sol escaldante.
Sob o pretexto de desinfetar a cela, imunda de fezes e urina, os carcereiros jogaram cal lá dentro. Apenas dois dos 18 encarcerados sobreviveram: João Cândido e João Avelino Lira, de 26 anos. Os demais morreram de fome ou de asfixia.
A odisséia de João Cândido não terminou ali. Em abril de 1911, foi mandado para o Hospital Nacional dos Alienados, onde permaneceu por 10 meses. Liberado, voltou à prisão, onde sobreviveu a uma tentativa de assassinato.
Um ano e meio depois, no dia 29 de novembro de 1912, foi levado a julgamento. Apesar de absolvido das acusações, foi expulso da Marinha. O apelido de "Almirante Negro" quem lhe deu foi o escritor João do Rio, que trabalhava no jornal Gazeta de Notícias.
João Cândido foi homenageado por João Bosco, na música Mestre Sala dos Mares, VEJA.
AULA COMPLEMENTAR 11
Movimentos Sociais: Como surgem? Onde vivem?
O que são movimentos sociais?
O direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º, XVI, da Constituição Federal de 1988.
E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos, e colocando o conceito de movimento social em pauta.
Primeiramente, o que são movimentos sociais?
Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e/ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos, que resultam de lutas sociais, que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades.
Mas como isso é feito?
Ações coletivas são usadas como forma de manifestação, como: passeatas, greves, marchas, entre outros.
Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos:
- Conjuntural: movimento que surge devido uma demanda específica e tem curto prazo (por exemplo as manifestações sobre o preço da passagem);
- Estrutural: movimento que quer conquistar coisas a longo prazo (por exemplo os movimentos que lutam pelo fim do racismo).
Outro fato importante é que movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo vigente, basta apoiarem as mesmas lutas com as quais o governo se identifica.
E atenção: movimento social é diferente de manifestação espontânea! Manifestações espontâneas acontecem, por exemplo, em estádios de futebol. Quando um grupo grande de pessoas está reunido por um objetivo comum, mas não se conhecem e não defendem os mesmos ideais.
Então, como surgiram no Brasil?
No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar.
O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a Passeata dos Cem Mil, assim como no período das Diretas Já e do impeachment do Fernando Collor, nas décadas de 80 e 90.
Além disso, movimentos como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), que lutam pelo direito a terra e moradia, também surgiram na década de 70 e na de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros.
Outro movimento, que ficou conhecido em junho de 2013, foi o MPL (Movimento Passe Livre): grupo responsável pelos protestos contra o aumento das tarifas dos transportes públicos.
Essas manifestações ficaram conhecidas como “Jornadas de Junho” e iniciaram uma nova onda de movimentos sociais, levantando pautas como os movimentos sociais contemporâneos e o movimento social em rede.
Movimentos sociais contemporâneos
Os chamados novos movimentos sociais, ou movimentos sociais contemporâneos, surgiram através de uma série de lutas por reconhecimento e direitos civis. Por isso, eles tratam mais de assuntos voltados a questões éticas e de valores humanos, muito discutidos na sociedade e nas grandes mídias.
Alguns exemplos:
Movimento Negro
Apesar de já ser um movimento presente desde a época da escravidão, os negros ainda precisam lutar contra a discriminação étnica e racial. Atualmente, o sistema de cotas das universidades é uma de suas bandeiras.
Movimento Estudantil
Responsáveis por organizar a Passeata dos Cem Mil na década de 60, os estudantes dispunham de várias organizações representativas, como por exemplo a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a UEE (Uniões Estaduais dos Estudantes. Também estiveram presentes nas manifestações em oposição ao governo Collor e mais recentemente na Mobilização estudantil de 2016.
A luta dos estudantes se concentra em garantir um ensino público de qualidade e não permitir cortes de verbas destinadas a educação.
Movimento Feminista
Pode ser dividido em três “ondas”:
A primeira onda, que podemos localizar temporalmente do fim do século XIX até meados do século XX, foi caracterizada pela reivindicação, por parte das mulheres, dos diversos direitos que já estavam sendo debatidos — e conquistados — por homens de seu tempo.
A segunda onda tem seu início em meados dos anos 50 e se estende até meados dos anos 90 do século XX. Foi nessa época que foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou-se a construir uma teoria-base sobre a opressão feminina.
Geralmente, o início da terceira onda é associado ao surgimento de movimentos punk femininos, cuja ideologia girava em torno da negação a corporativismos e da defesa do “faça você mesmo” (do it yourself). Ou seja, o movimento feminista luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero.
Movimento LGBTQIA+
O movimento LGBTQIA+ (sigla que significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo e Assexual e mais), mais conhecido pela sociedade como Movimento LGBT, age em busca da igualdade social e de direitos e contra o preconceito.
Uma das ações mais conhecidas do movimento é a Parada do orgulho LGBT de São Paulo, que acontece anualmente na Avenida Paulista e atrai turistas de todo o mundo. O objetivo principal da Parada é a luta contra a LGBTfobia.
Movimento Ecológico
Concentram-se nos projetos voltados a estudar o impacto do capitalismo no meio ambiente, reivindicando medidas de proteção ambiental. Visa a conscientização da população e a fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis por tratar dos assuntos ligados ao meio ambiente.
Tecnologia como aliada: os movimentos sociais em rede
A internet surgiu como uma construção de um novo espaço para debate e por isso as manifestações de 2013 foram um marco dos movimentos sociais em rede.
Através de redes sociais como Facebook, Twitter e Whatsapp, as informações sobre as manifestações – pontos de encontro, horários, vestimenta, entre outros – eram passadas de forma instantânea e atingiam um grande número de pessoas. Assim, foi construída a cultura do debate em rede.
Compartilhando conteúdo, informação e conhecimento, a internet tornou-se um espaço social, onde ideias e pontos de vista podem ser disseminados a todo instante. Um terreno fértil para os movimentos sociais se organizarem e atingirem mais militantes. Infelizmente, a internet também proporcionou uma enxurrada de "fake news", ou seja, informações falsas usadas para direcionar o voto dos eleitores, burlando assim a democracia.
Apesar dos movimentos sociais parecerem muito ligados a nação na qual pertencem, você sabia que existem movimentos sociais que são transnacionais?
É o caso do Fórum Social Mundial, um evento que é organizado por diferentes movimentos sociais pelo mundo e tem o objetivo de apresentar soluções para problemas contemporâneos de transformação social global, formando uma rede de globalização.
AULA COMPLEMENTAR 10
Diversidade e cidadania: Como a história nos ensina?
A POPULAÇÃO BRASILEIRA É UMA DAS MAIS DIVERSIFICADAS DO MUNDO, ELA FOI FORMADA PELA MISTURA DE DIFERENTES POVOS (INDÍGENAS, AFRICANOS, IMIGRANTES ITALIANOS, JAPONESES, ETC).
TODA ESSA MISTURA RESULTOU EM UM POVO ÚNICO COM CORES, CULTURAS, SOTAQUES E HISTÓRIAS BEM DIFERENTES. ESSA DIVERSIDADE CULTURAL É UM DOS MOTIVOS PARA RESPEITARMOS CULTURAS DIFERENTES DA NOSSA.
O RESPEITO É UM EXEMPLO DA PRÁTICA DE CIDADANIA. MAS O QUE É CIDADANIA?
CIDADANIA É UM CONJUNTO DE DIREITOS E DEVERES QUE NOS PERMITEM PARTICIPAR DAS DECISÕES DA SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS. ELA É CONSTRUÍDA NO NOSSO DIA A DIA, A PARTIR DA NOSSA CAPACIDADE DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COLABORAÇÃO PARA O BEM COMUM.
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS AFIRMA QUE “SER CIDADÃO É TER DIREITOS E DEVERES QUE CADA UM DEVE CUMPRIR NA SOCIEDADE”.
NO BRASIL OS CIDADÃOS TÊM UM CONJUNTO DE DIREITOS GARANTIDOS POR LEI. PORÉM SER CIDADÃO TAMBÉM SIGNIFICA TER DEVERES.
ALGUNS DIREITOS:
- ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS;
- LIBERDADE DE EXPRESSÃO;
- PARTICIPAR DE DECISÕES POLÍTICAS.
ALGUNS DEVERES:
- OBEDECER AS LEIS;
- PAGAR IMPOSTOS;
- RESPEITAR AS PESSOAS.
O conceito de cidadania teve sua origem na Grécia antiga, usado para designar os direitos relativos aos cidadãos, ou seja, aos indivíduos que viviam na cidade e participavam ativamente das decisões políticas. Excluíam-se, aqui, homens como artesãos e comerciantes, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Portanto, apenas os donos de terras eram livres para decidir sobre os rumos do governo.
No Brasil, o termo cidadania surgiu na Constituição Imperial de 1824, mas somente a partir de 1930, passou a ser empregado para definir a condição dos que exerciam direitos políticos. No entanto, há um longo caminho a ser percorrido, pois a democracia ainda é recente no país, e exige a participação de todos enquanto cidadãos, cobrando resultados de promessas políticas, justiça para a corrupção, para um ato corriqueiro e buscando meios possíveis para melhorar a sociedade.
Constituição Federal (1988)
Capítulo I
I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (ART. 5º)
- Texto do Capítulo
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;·
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
AULA COMPLEMENTAR 9
Formação da diversidade brasileira e cidadania
Diversidade no Brasil
A diversidade cultural brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população do Brasil. A diversidade cultural predominante brasileira é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país.
O elemento (homem) branco que participou da formação da cultura brasileira fazia parte de vários grupos, chegando ao país durante a época colonial. Além dos portugueses, vieram os espanhóis (de 1580 a 1640) durante a União Ibérica, período sob o qual Portugal ficou sob o domínio da Espanha.
Diversos grupos étnicos participaram da formação do povo brasileiro:
Durante a ocupação holandesa no nordeste (de 1630 a 1654), vieram flamengos ou holandeses, que ficaram no país, mesmo depois da retomada da área pelos portugueses.
Na colônia, chegaram ainda os franceses, ingleses e italianos.
No entanto, foi dos portugueses que recebemos a parcela maior de nossa herança cultural, onde a história da imigração portuguesa no Brasil confunde-se com nossa própria história.
Foram eles, os colonizadores, os responsáveis pela formação inicial da população brasileira, através do processo de miscigenação com índios e negros africanos, de 1500 a 1808, consequentemente por três séculos, eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil.
A constituição da cultura brasileira, em seus vários aspectos, é o resultado da integração de elementos das culturas: indígena, do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes que vieram para o nosso país.
Portanto, de cara podemos perceber que há uma diversidade muito grande entre os brasileiros levando em conta a raça, a etnia, a cultura, a religião e por aí afora.
Entrentanto há ainda outros tipos de diversidades, como a diversidade de genêro que é simbolizado pela sigla LGBTQIA+ (L = Lésbicas,
G = Gays, B = Bissexuais, T = Transgênero,
Q = Queer, I = Intersexo, A = Assexual, + Outras identidades de genero)
O mais comum é vermos seis identidades: mulher ou homem cisgênero, mulher ou homem transgênero, gênero não-binário e agênero.
Contudo, existem subdivisões e classificações intermediárias. Quando uma pessoa cria uma conta no Facebook, por exemplo, a plataforma oferece 50 opções de identidade de gênero.
Há também a diversidade social, pessoas com poucos recursos desde a infância e pessoas que tiveram tudo o que precisavam desde sempre.
Entretantando, todos são brasileiros, pagam impostos, e tem direito a serem cidadões na plenitude de seus direitos.
AULA COMPLEMENTAR 8
Diferença e desigualdade: Caminhos de descobertas
A diferença entre desigualdade e diferença.
Os protestos dos "indignados" da Europa e do movimento Ocupe Wall Street (VEJA), nos Estados Unidos, colocaram a desigualdade social na agenda internacional. No Brasil, um dos países com maior disparidade de renda, o tema também está na ordem do dia.
Mas, do mesmo modo que se discute o assunto mais abertamente, uma reação em contrário trabalha silenciosamente no sentido de naturalizar as desigualdades, o que dificulta o enfrentamento do problema. E isso se verifica por meio do raciocínio de que, se na natureza há diferenças, a desigualdade é natural. E, se é natural, consequentemente não pode ou não deveria ser superada.
Porém, o argumento da naturalidade da desigualdade é equivocado. Não considera uma sutileza: "diferença" não é o mesmo que "desigualdade", embora os dois termos até sejam usados como sinônimos.
Uma boa distinção entre os dois conceitos é dada pelo historiador brasileiro José D'Assunção Barros:
Algo é "diferente" quando sua essência se difere da essência do outro, seja no todo ou em algum aspecto particular.
A "desigualdade", no entanto, não se refere a essências distintas, mas sim a uma circunstância que privilegia algo ou alguém em relação ao outro, independentemente de os dois serem iguais ou diferentes.
A diferença pode ser tanto nata e natural como cultural. Já a desigualdade, as circunstâncias que privilegiam alguns, é construída socialmente. E, muitas vezes, implica a ideia de injustiça.
A própria natureza pode ajudar a esclarecer os conceitos e mostrar como a desigualdade não é natural, mas social.
Os seres vivos têm códigos genéticos (a essência) diferentes entre si. A diversidade genética coloca as espécies em posições distintas no meio ambiente para competirem entre si pela vida.
Alguns animais são caçadores e outros, a caça. Isso é natural. E ninguém discute que haja injustiça na natureza.
Mas, em cada espécie, há compartilhamento de uma mesma genética. Um leão é igual a outro leão, bem como todos os homens são essencialmente iguais entre si. Ou seja, nascem com características comuns que lhes asseguram condições de lutar pela sobrevivência na natureza.
A regra natural, portanto, é a igualdade de atributos numa mesma espécie. Os indivíduos largam dispondo de uma mesma genética na corrida pela vida.
Obviamente, há diferenças dos humanos entre si, não no todo, mas em aspectos particulares (força, altura, inteligência, sexo) e não é desejável que sejam eliminadas.
Essas diferenças levam os homens a resultados diversos em uma disputa justa, em igualdade de condições.
Entretanto, quando as condições de largada são diferentes perpetua-se uma desigualdade, que na quase totalidade dos casos, levam a injustiças sociais.
Assitam ao vídeo, para perceberem como as condições de largada podem definir o destino de cada um.
AULA COMPLEMENTAR 7
Estatuto da criança, do idoso e do consumidor
Estatuto da criança e do adolescente
No caso da infância, a lei mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069. Em vigor desde 1990, o ECA é considerado um marco na proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção integral, reforçando a ideia de “prioridade absoluta” da Constituição.
O ECA, prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. ... Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres e podem lutar por eles
Em seu artigo 227 nossa CF traz:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Estatuto do Idoso
Instituído pela Lei 10.741 em outubro de 2003, o Estatuto do Idoso visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 1º). Aborda, assim, questões familiares, de saúde, discriminação e violência contra o idoso. E resguarda-o, desse modo.
O estatuto busca, assim, a persecução de princípios e direitos fundamentais à vida humana. Entre eles, visa, principalmente, garantia da dignidade humana, princípio consubstanciado na Constituição Federal de 1988.
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
A legislação, ainda, institui o deve da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público de assegurar tais direitos ao idoso. Dessa maneira, torna-se uma prioridade social, conforme o art. 3º da Lei 10.741/2003, a efetivação do:
- direito à vida;
- direito à saúde;
- direito à alimentação;
- direito à educação;
- direito à cultura;
- direito ao esporte;
- direito ao lazer;
- direito ao trabalho;
- direito à cidadania;
- direito à liberdade;
- direito à dignidade;
- direito ao respeito;
- direito à convivência familiar e comunitária.
Estatuto do consumidor
Antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas que comprassem um produto ou contratassem qualquer serviço. Se você comprasse um produto estragado, ficava por isso mesmo.
Em 11 de setembro de 1990 foi promulgado o Estatuto do Consumidor, a Lei no 8.078, ela entrou em vigor em 11 de março de 1991, inserindo no ordenamento jurídico brasileiro uma política nacional para relações de consumo.
A Lei nº 8.078/90, é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor.
O direito do consumidor é o conjunto de regras e princípios jurídicos que trata das relações de consumo, isto é, as relações existentes entre o consumidor e o fornecedor de bens ou de serviços.
Reconhecido internacionalmente, o CDC visa estabelecer princípios básicos como proteção da vida, da saúde, da segurança e da educação relacionados ao consumo, tendo como objetivo determinar normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social.
AULA COMPLEMENTAR 6
A Cidadania na constituição de 1988 PLAY
A Constituição de 1988 foi definida pelo Deputado Ulysses Guimarães como “Constituição cidadã” porque amplia os direitos e garantias individuais em várias áreas.
Além disso, contou com a participação efetiva da população. Por esses motivos, especialistas a consideram a mais democrática de nossa história e uma das mais progressistas do planeta.
Movida pelo ideal de igualdade, a partir da nova Carta Magna, todos os brasileiros se tornaram iguais perante a lei e têm direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Entre os princípios fundamentais da República, estão a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conceitos até então inéditos na lei brasileira.
O documento garantiu ainda o acesso universal à educação, à saúde e à cultura. O documento assinalou o direito dos analfabetos ao voto e permitiu o voto de jovens a partir de 16 anos.
Ele trouxe ainda novas conquistas de direitos humanos e para grupos como crianças, jovens, idosos, mulheres, negros, índios e pessoas com deficiência.
Para garantir a qualidade de vida, foi determinado que o Estado deveria prover serviços, programas e ações em benefício da população.
Na Saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS).
A Educação foi considerada como dever do Estado e foi ampliada a educação rural.
Foram estabelecidos mais direitos trabalhistas e foi feita a reforma do sistema tributário.
O direito do consumidor também foi reconhecido, assim como a importância da biodiversidade e da preservação do Meio Ambiente.
A Constituição de 1988 trouxe uma estabilidade política ao país e entrou para a história por causa do resgate da democracia e dos grandes avanços na conquista da cidadania.
De 1988 para cá, o documento sofreu diversas alterações, refletindo as novas demandas do Brasil.
Até dezembro de 2017, foram acrescentadas 104 emendas.
AULA COMPLEMENTAR 5
Daqui para frente, só olhando para trás
A constituição é o texto fundamental que organiza a estrutura política de um país, descreve os poderes do estado e aponta suas limitações. Desde a independência, o Brasil já teve sete constituições. Podem ser outorgadas (impostas) ou promulgadas (participação do povo).
É a constituição de um país que define os direitos e as obrigações dos cidadãos.
AULA COMPLEMENTAR 4

"A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, ligada ao governo federal, e que atua na pesquisa e no desenvolvimento científico e tecnológico da saúde brasileira. É a organização com mais destaque, na América Latina, na área de ciências e tecnologia em saúde.
Um dos focos da Fiocruz é realizar pesquisas nas áreas de medicina experimental, biologia e patologia, produzindo e fabricando medicamentos e vacinas para melhorar a qualidade de vida e a saúde pública da população brasileira.
As vacinas e os remédios produzidos pela fundação visam a fortalecer e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) — política pública brasileira de atenção à saúde da população do Brasil — e, com isso, diminuir as desigualdades sociais relacionadas à saúde dos brasileiros.
Por fim, a Fiocruz forma e aperfeiçoa profissionais de saúde e pesquisadores para atuar nos mais diversos campos, em especial no SUS. Há oferta de diversos cursos (presenciais e à distância) de especialização, mestrado, doutorado, entre outros.
"O que faz a Fiocruz?
A Fiocruz atua no campo da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico da área de saúde no Brasil. Dentre suas principais atividades, destacam-se:
Participação nas políticas nacionais da área de saúde brasileira;
Realização de pesquisas e produção de tecnologias e produtos para ampliar o acesso à saúde;
Fabricação de medicamentos, fármacos, vacinas e outros produtos de interesse para a saúde;
Promover a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento tecnológico para preservar o meio ambiente e a biodiversidade;
Desenvolvimento de atividades para auxiliar o Sistema Único de Saúde.
História da Fiocruz
A Fiocruz começou suas atividades no dia 25 de maio de 1900, na Fazenda de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O nome da fundação é em homenagem ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que participou ativamente da sua criação.
A história da Fiocruz começou em 1899, quando a prefeitura do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, solicitou ao Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro que produzisse soros e vacinas contra a peste bubônica. Para atender essa demanda, nasceu, no dia 25 de maio de 1900, o Instituto Soroterápico Federal.
O instituto era comandado pelo barão Pedro de Affonso e por Oswaldo Cruz. O primeiro deixou a função, mas o médico continuou. No ano de 1901, a futura Fiocruz passou a fazer parte do governo federal. Com a expansão das atividades, a organização começou a elaborar reformas sanitárias, buscando combater não só a peste bubônica como também a febre amarela e a varíola.
Em 1907, o Instituto Soroterápico Federal alterou o seu nome para Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos. No ano seguinte, passou a chamar-se Instituto Oswaldo Cruz.
Em 1970, a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde foi transformada, por decreto, em Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já em 1974, a organização passou a chamar-se Fundação Oswaldo Cruz.
Primeiros médicos da Fiocruz
Oswaldo Cruz e Carlos Chagas foram os dois médicos que fizeram parte da diretoria da Fiocruz nos seus primeiros anos. A trajetória profissional de ambos se confunde com a história própria fundação.
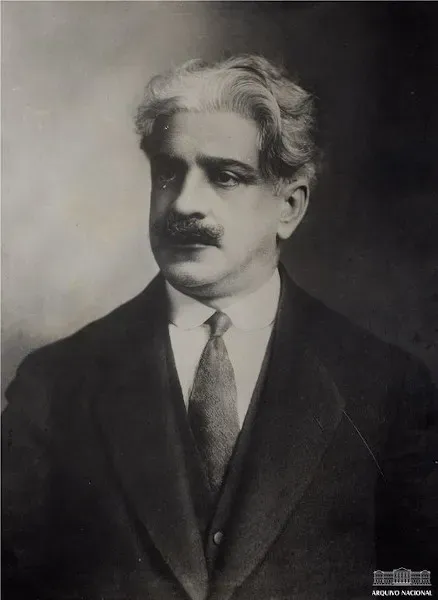
Oswaldo Cruz
O nome da Fiocruz é em homenagem ao médico Oswaldo Cruz.
Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga (SP), em 5 de agosto de 1872, mas, dois anos depois, sua família transferiu-se para o Rio de Janeiro. O interesse do futuro médico pela microbiologia começou na infância, quando ele montou um pequeno laboratório no porão de sua casa.
Cruz graduou-se na carreira de Medicina em 1892, no Rio de Janeiro. Durante o curso, publicou artigos relacionados à microbiologia, e seu trabalho de conclusão de curso teve como tema “A veiculação microbiana pelas águas”. No final dos anos 1800, o cientista estudou microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur, em Paris.
Já na direção da Fiocruz, o médico adotou métodos inéditos para conter enfermidades, como:
o isolamento dos doentes;
a notificação compulsória dos casos positivos;
a captura dos vetores (mosquitos e ratos);
a desinfecção das moradias em áreas de focos.
Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Dois anos depois, retirou-se da direção da Fiocruz. No mesmo ano, mudou-se para Petrópolis e, posteriormente, tornou-se prefeito dessa cidade. Oswaldo Cruz morreu no dia 11 de fevereiro de 1917 devido à insuficiência renal. "
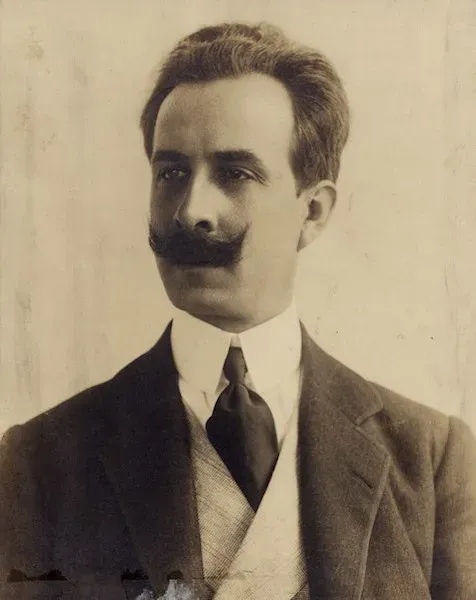
Carlos Chagas
Carlos Chagas foi um cientista brasileiro de grande renome.
Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nasceu em 9 de julho de 1879, na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Em 1897, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A tese de fim de curso do futuro médico teve como tema a doença malária e chamou-se “Estudos hematológicos no impaludismo”. Durante suas pesquisas, Chagas começou a ter contato com Oswaldo Cruz.
No ano de 1905, o médico mineiro atuou na campanha nacional contra a malária. Para isso, Chagas defendeu o combate do mosquito no interior das casas, desinfetando-as pela queima de piretro. Essa campanha serviu como experiência para combater a doença em todo o mundo.
Em abril de 1909, Carlos Chagas descobriu uma nova doença chamada tripanosomíase americana, também conhecida como doença de Chagas.
Após a morte de Oswaldo Cruz, em 1917, Carlos Chagas assumiu a diretoria da Fiocruz. Entre os destaques do seu trabalho, esteve a investigação de epidemias que ocorreram na zona rural brasileira. Para haver um local onde se pudesse pesquisar esses males, ele criou o Hospital Oswaldo Cruz, em 1918. No ano de 1942, o local passou a chamar-se Hospital Evandro Chagas.
Durante a gestão de Chagas, foram organizadas áreas mais específicas dentro do então Instituto Oswaldo Cruz, entre as quais: bacteriologia, anatomia, zoologia e protozoologia. Ainda sob a direção do médico, os remédios produzidos no local passaram a ser comercializados.
Uma outra ação de destaque da Fiocruz, durante o comando de Chagas, foi a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), vinculado ao Ministério da Justiça. O departamento é considerado o precursor da nacionalização das políticas de saúde e saneamento no país.
Carlos Chagas morreu no dia 8 de novembro de 1934, devido a um infarto de miocárdio.
Fiocruz no Brasil
A Fiocruz conta com estas 11 unidades técnico-científicas no Rio de Janeiro:
Casa de Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (ESPJV)
Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB)
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict)
Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos)
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos)
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI)
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)
Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
Há, ainda, mais 10 unidades e escritórios nos estados de:
Amazonas
Bahia
Ceará
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rondônia
Distrito Federal
A fundação possui também uma unidade em Maputo, na capital do Moçambique."
"Destaques da Fiocruz
Com mais de cem anos de atuação em prol da saúde brasileira, a Fiocruz coleciona diversas atividades que ganharam destaque. Confira algumas:
1911: o então Instituto Oswaldo Cruz ganhou diploma de honra na Exposição Internacional de Higiene e Demografia de Dresden, na Alemanha, pela descoberta da doença de Chagas.
1937: a vacina brasileira contra a febre amarela produzida na Fiocruz foi adotada. Segundo dados da fundação, atualmente 80% das vacinas contra essa doença são produzidas na fundação.
1970: a Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) foi incorporada à Fiocruz. Em suas salas, foram delineados os primeiros projetos que levariam à implantação do SUS.
1970: o regime militar cassou os direitos políticos de cientistas da Fiocruz. O episódio ficou conhecido como Massacre de Maguinhos.
1976: foram criados o Bio-Manguinhos — maior centro produtor de vacinas e kits e reagentes para diagnóstico laboratorial de doenças infecto-parasitárias da América Latina — e o Farmanguinhos.
1987: equipes da Fiocruz isolaram, pela primeira vez no Brasil, o vírus HIV, causador da aids. Depois desse episódio, a fundação passou a participar da Rede Internacional de Laboratórios para o Isolamento e Caracterização do HIV-1, coordenada pelo Programa Mundial de Aids, da Organização Mundial de Saúde (OMS).
2006: a Fiocruz foi agraciada com o Prêmio Mundial de Excelência em Saúde Pública, concedido pela maior e mais importante instituição de saúde pública no mundo, a Federação Mundial de Associações de Saúde Pública. Ainda nesse ano, a fundação ganhou a Ordem do Mérito Científico Institucional, a mais importante honraria concedida anualmente pelo governo federal.
2006: a Fiocruz realizou o sequenciamento do genoma da vacina BCG, em conjunto com a Fundação Ataulpho de Paiva.
Vacinas
Confira algumas vacinas que a Fiocruz já produziu:
Febre amarela: 1937
Meningite A e C: década de 1970
Haemophilus influenzae tipo B (Hib): 1999
DTP e Haemophilus influenzae tipo B (Hib): 2001
Tríplice viral: 2003
Rotavírus humano: 2008
Pneumocócica 10-valente: 2010
Poliomielite inativada (VIP): 2012
Tetravalente viral: 2013
Bio-Manguinhos
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) foi fundado em 1976, no campus da Fiocruz. Essa é a unidade que realiza pesquisas, inovações e desenvolvimentos tecnológicos para produzir vacinas e reativos para todo o Brasil.
Situado na Bio-Manguinhos, o Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV) atua na produção de vacinas para atender o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde. O complexo, um dos maiores centros da América Latina, fornece a vacina da febre amarela à Organização Mundial da Saúde (OMS).
As vacinas da Bio-Manguinhos são distribuídas a todos os brasileiros de forma gratuita. No ano de 2020, foram entregues mais de 111 milhões de doses de vacinas.
Segundo a Fiocruz, as vacinas somente são produzidas pelo Bio-Manguinhos; o instituto não aplica os imunizantes. Para isso, existe o Centro de Referência em Imunológicos Especiais (Crie), especializado na aplicação das vacinas. O Crie está localizado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas.
Farmanguinhos
Criado em 1976, o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) da Fiocruz atua na pesquisa, produção, inovação e desenvolvimento tecnológico de medicamentos. Além disso, o instituto tem como objetivo ampliar o acesso dos brasileiros à saúde pública.
O Farmanguinhos é o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde. Ao todo, o instituto fabrica cerca de 33 tipos de medicamentos, entre os quais antibióticos, anti-inflamatórios, anti-infecciosos, antiulcerosos, analgésicos, para doenças endêmicas, como malária e tuberculose.
São produzidos, ainda, antirretrovirais para tratamento da aids e hepatites virais e remédios para o sistema cardiovascular e o sistema nervosos central.
Por ano, o Farmanguinhos produz mais de 2,5 bilhões de unidades de medicamentos, os quais são distribuídos à população por meio do SUS.
Coronavírus
Em 2020, a Fiocruz capacitou profissionais de saúde do Brasil e da América Latina para realizarem o diagnóstico laboratorial do coronavírus (Covid-19). Nesse mesmo ano, a fundação firmou parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra, e o laboratório AstraZeneca, também inglês, para produzir a vacina dessa doença no Brasil.
No dia 17 de janeiro de 2021, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial dessa vacina. Dados da Fiocruz indicam que há previsão de entrega de 210,4 milhões de doses para a população ainda em 2021, por meio do Programa Nacional de Imunizações do SUS.
Em curto prazo, a vacina também será produzida no Brasil por pesquisadores no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).
Arquitetura da Fiocruz
Oswaldo Cruz, que estudou no final dos anos 1800 no Instituto Pasteur, na França, inspirou-se na arquitetura dessa organização francesa e fez um desenho de como imaginava um instituto semelhante no Brasil. A Fiocruz foi projetada pelo arquiteto português Luiz Moraes Junior e construída entre os anos 1905 e 1918.
Inspirado na arte hispana-muçulmana, o Castelo da Friocruz, também chamado Pavilhão Mourisco ou Palácio das Ciências, conta com azulejos portugueses e mosaicos em tapeçaria árabe. O destaque vai para uma cúpula em planta octogonal e feita em cobre.
Pela grandeza do projeto arquitetônico no estilo neomourisco, o castelo foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1981. O espaço abriga a parte administrativa da fundação."
AULA COMPLEMENTAR 3
Formalização da cidadania no Brasil PLAY
Mesmo após o Brasil se tornar independente, em 1822, não houve mudanças significantes na sociedade brasileira. Apesar da independência política adquirida, o Brasil era caracterizado pelos arranjos e negociações feitas entre a elite nacional, Portugal e Inglaterra.
O Brasil era monarquista e conservador. A Constituição de 1824 estabeleceu os direitos políticos dos cidadãos e definiu quem teria o direito de votar e quem poderia ser eleito.
Apenas os homens com renda mínima de 100 mil réis e maiores de 25 anos poderiam votar. As mulheres não votavam; os escravos nem eram considerados cidadãos.
Teoricamente, o Brasil, principalmente considerando-se a época, era relativamente democrático: a maioria da população adulta masculina possuía o direito de votar. Mas muitos cidadãos eram analfabetos e trabalhavam para grandes proprietários que determinavam para quem eles iriam votar. Além disto, nas cidades, muitos dos eleitores eram funcionários públicos, manipulados pelo governo.
Mas o maior obstáculo para o desenvolvimento dos direitos civis no Brasil foi a escravidão. A sociedade brasileira chegava até a negar a condição de humanidade para seus escravos. O Brasil foi o último país cristão e ocidental a abolir a escravidão.
E é importante lembrar que a escravidão só foi abolida no Brasil porque o país sofreu muita pressão da Inglaterra, e porque a elite brasileira descobriu que a escravidão seria economicamente prejudicial, pois impedia a integração do país nos mercados internacionais e barrava o desenvolvimento das classes sociais e do mercado do trabalho. Ou seja, a abolição da escravidão no Brasil ocorreu devido a motivos econômicos, não humanistas.
Outro obstáculo ao desenvolvimento da cidadania brasileira foi a forma como as terras eram distribuídas. A grande propriedade favoreceu o desenvolvimento das grandes oligarquias formadas por um pequeno número de famílias que controlavam o resto da população.
Em resumo, mesmo após o Brasil ter adquirido a sua independência política, foram preservadas as elites nacionais no poder; a nação continuou dividida entre os grandes proprietários de terras e os escravos; e nunca foi criado um sistema educacional público de qualidade.
O Estado era conservador e patrimonialista, oferecendo privilégios para poucos e praticamente nenhuma forma de mobilidade social para o restante da população.
Foi apenas a partir da urbanização e da industrialização, e do surgimento de uma pequena classe operária, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que surgiram manifestações e reivindicações públicas. Foi iniciada uma luta por uma legislação trabalhista e por direitos sociais.
Mas a instabilidade política no Brasil durante os anos 1930-1964 barrou o desenvolvimento de direitos políticos. Houve uma alternância de ditaduras e de regimes mais democráticos. Durante o período ditatorial de 1937, as liberdades de expressão e de organização foram suspensas.
Foi apenas com a derrubada de Getúlio Vargas, com as eleições presidenciais e legislativas e com a Constituição de 1946, que houve uma certa estabilidade quanto aos direitos civis e políticos no Brasil.
Porém, a partir de 1964, devido à ditadura militar, houve um grande retrocesso: a maioria dos direitos civis e políticos foram restringidos. A ditadura militar foi um regime antidemocrático, que impediu o exercício da cidadania. Houve censura à imprensa, uma ausência geral de liberdades e violência praticada pelo governo – torturas, desaparecimentos, assassinatos políticos.
No Brasil do século XX, lutava-se por direitos que haviam sido conquistados já no século XVIII.
Em 1988, quando o Brasil readquiriu a sua democracia, acreditou-se que a cidadania havia sido alcançada. Mas o direito pleno de votar não é sinônimo de democracia. A mais recente Constituição brasileira, chamada de “Constituição cidadã”, assegura os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiras e as responsabilidades do poder público.
Não obstante, esses direitos não fazem parte da vida diária de uma grande parte da população brasileira. O Brasil continua sendo assolado pelo analfabetismo, pela subnutrição, por falta de saneamento, por epidemias, por uma precária rede pública de serviços de saúde, por falta de educação e treinamento profissional, pela violência urbana, pelas injustiças no campo e pelo desemprego e subemprego acentuado.
A partir de 1989, a legislação brasileira considera crime a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei pune atos discriminatórios com penas de até cinco anos de reclusão.
A garantia dos direitos políticos e civis assegurados pela Constituição não resolveu os problemas históricos da cidadania no Brasil. Mas, esses direitos permitem que os problemas da sociedade brasileira sejam discutidos e resolvidos.
Os direitos inerentes a todo cidadão brasileiro precisam fazer parte da vida diária de todo brasileiro. Cabe ao país como um todo mobilizar forças e trabalhar para transformar o legado de injustiças e igualdades que caracterizaram o nosso país durante séculos e que tanto prejudicaram o nosso desenvolvimento social, econômico e humano.
3.º ANO AULA COMPLEMENTAR 01 Voltar
SENSO COMUM
O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Geralmente, o conhecimento de senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é, categoricamente, popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade.
Ex.: SEXTA FEIRA 13 DÁ UM AZAR DANADO.
É um pensamento que tem sido externado a anos, que passou de geração em geração e acabou se tornando uma quase verdade (ou um senso comum) a todos.
Diferentemente de outro pensamento científico, tal como: As vacinas salvam vidas.
Como se prova que as vacinas salvam vidas? Pelo histórico de doenças que foram erradicas por elas.
Como se prova que Sexta Feira 13 dá um azar danado?
Por acaso foi feito uma pesquisa mundial e se constatou que toda sexta feira 13 que já existiu houve um catástrofe, um aumento de mortes, um aumento de acidentes, desastres naturais ou coisa que o valha neste dia? A resposta é não.
Sexta Feira 13 dá um azar danado é um senso comum, sem comprovação do fato. Assim como muitos outros que existem em cada cultura.
SENSO CRÍTICO
O senso crítico é baseado no uso da razão e vai contra ao senso comum por não aceitar nenhuma verdade sem questioná-la. Quem pensa criticamente tem a capacidade de fazer a avaliação, o julgamento e discernir com base no equilíbrio.
Desta maneira o senso crítico se baseia na dúvida, no questionamento que levariam à reflexão e à contestação. A capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente, Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto.
O FAMOSO "MARIA VAI COM AS OUTRAS"
Sem senso crítico, uma pessoa pode ser facilmente manipulada, pois, acredita nos outros sem pestanejar. Assumindo como verdade o que lhe é passado, sem pensar, refletir, investigar ou pesquisar para tirar suas próprias conclusões. Só errando ou acertando pela própria cabeça você será livre e com bagagem para assumir uma liderança no futuro.
3.º ANO AULA COMPLEMENTAR 02 Voltar
CIDADANIA
Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres de um indivíduo. É o que torna a pessoa um cidadão ou integrante pleno de um Estado (país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado).
A cidadania efetiva deve proporcionar ao cidadão a possibilidade de intervenção na direção das ações públicas do Estado. Essa participação pode ocorrer de modo direto ou indireto.
A participação cidadã indireta mais comum é a representatividade, que é fornecida a uma pessoa por meio do voto direto. O prefeito, por exemplo, por meio do voto dos cidadãos, ganha o direito de representar a população durante um determinado período.
Os direitos dos cidadãos estão previstos na Legislação de cada país. Ainda existem documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que servem como premissa para a construção e validação dos direitos dos cidadãos.
Entretanto, o exercício da cidadania também pressupõe o cumprimento de deveres. A maior parte desses deveres busca garantir que os cidadãos de um determinado território não prejudiquem ou dificultem o acesso aos direitos e liberdades individuais ou coletivos dos demais cidadãos.
SER CIDADÃO
A definição do que é ser um cidadão e os requisitos para adquirir a cidadania variam de acordo com cada país. Entretanto, há essencialmente quatro formas comuns de uma pessoa tornar-se cidadão de um determinado país:
- Pelo nascimento: os indivíduos que nascem em um país são naturalmente cidadãos desse país;
- Pela filiação: é considerado cidadão de um Estado o filho(a) de um cidadão daquele Estado. Portanto, se o pai ou mãe de uma pessoa possui a cidadania de um país, também tem direito o filho de obtê-la;
- Pelo casamento: uma pessoa que, sendo estrangeiro(a), for casado(a) com um(a) cidadão(ã) do país pode tornar-se também cidadãos dele;
- Por opção: uma pessoa que passa por um processo chamado naturalização torna-se um cidadão do novo país que adotou.
Os critérios desse processo variam de país para país. Independentemente do modo de aquisição da cidadania, todos os cidadãos possuem deveres.
Votar, no Brasil, por exemplo, é tanto um dever quanto um direito. O alistamento militar masculino é obrigatório em muitos países, constituindo também um dever. Além disso, todo cidadão deve cumprir as leis vigentes no país em que possui cidadania.
Embora existam normas, leis e documentos que listem de maneira detalhada os direitos, garantias e deveres dos cidadãos, esses marcos legais não são suficientes, em muitos casos, para efetivar o exercício pleno da cidadania.
A plenitude de direitos e deveres que constitui o “ser cidadão” tem como objetivo a construção de uma sociedade justa e igualitária. Entretanto, no Brasil e em diversas outras nações, essas garantias individuais, em tempo algum, foram oferecidas, obtidas ou cumpridas integral e simultaneamente.
A garantia dos direitos e o cumprimento dos deveres é do Estado, contudo, a sociedade também tem seu papel na cobrança e cumprimento do exercício pleno da cidadania.
No Brasil o órgão máximo responsável pela defesa do cidadão é o STF - Supremo Tribunal Federal.
DIREITOS HUMANOS
Direitos Humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos.
O senso comum faz as pessoas acreditarem que Direitos Humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas.
Em primeiro lugar, os Direitos Humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos.
Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação.
Portanto, quando o senso comum fala que “os Direitos Humanos foram criados para...”, já podemos identificar algo de errado no comentário.
Em segundo lugar, a extensão dos Direitos Humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral.
Então, frases repetidas pelo senso comum, como “Direitos Humanos servem para proteger bandidos”, não estão corretas, visto que os Direitos Humanos são uma proteção a todos os humanos.
Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos de réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato.
Por último, os Direitos Humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum “Mas quando morre um policial, os Direitos Humanos não vão dar apoio à família.” está duplamente incorreta, visto que os Direitos Humanos não são entidade ou pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive policiais.
Aqui está uma boa oportunidade entre aceitar o senso comum, ou exercer o senso crítico.
DIREITOS CIVIS = Direitos Sociais + Direitos Políticos
DIREITOS SOCIAIS
No Brasil, os Direitos Sociais são uma garantia constante na Constituição Federal de 1988 e são definidos em dois títulos:
- direitos e garantias fundamentais: significa que eles são parte essencial daquilo que o Estado deve garantir a seus indivíduos;
- ordem social: são uma necessidade para o estabelecimento de uma sociedade capaz de perpetuar-se ao longo do tempo de maneira harmônica.
Compromisso do estado para com todos: direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
No direito ao trabalho se encaixam principalmente normas que amparam e humanizam os trabalhos como:
- 13° Salário: valor pago no final do ano, no mesmo valor que a remuneração do trabalhador;
- FGTS: depósito pela empresa de 8% do salário bruto do trabalhador com objetivo de garantir uma reserva de dinheiro em momentos em que o trabalhador se encontrar em dificuldade, como demissão, diagnóstico de doenças, ou outras eventualidades;
- seguro-desemprego: uma assistência em dinheiro dado ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa;
- vale Transporte: propiciar a locomoção entre o emprego e a sua casa;
- abono salarial: benefício de salário mínimo a cada ano para quem possui uma renda mensal de até dois salários mínimos;
- aviso Prévio: em caso de quebra de contrato, a outra parte deve ser avisada com 30 dias de antecedência;
- Adicional noturno: a remuneração deve ser 20% maior para pessoas que trabalham entre 22:00 horas de um dia às 5:00 horas do próximo dia;
Direito ao Lazer
- um dia remunerado destinado ao descanso e lazer que seja preferencialmente aos domingos, não podendo ser vendido pelo empregado ao empregador;
- férias remuneradas após um período de 12 meses trabalhados, com direito de até 30 dias de férias caso não tenha faltado sem justificativas mais de cinco dias no ano;
Direito à Educação, ocupa um lugar de destaque nos rol dos direitos humanos por ser essencial e indispensável para o exercício da cidadania.
Direito à Saúde também é um direito humano e passou a ser um direito social de todo indivíduo, seja qual for sua condição social ou econômica, crença religiosa ou política.
Direito à proteção da maternidade sempre foi uma preocupação da Organização Internacional do Trabalho. A intenção desde o início foi garantir que as mulheres pudessem combinar seus papéis de trabalhadoras e de mães e prevenir um tratamento desigual por parte do empregador em razão desse papel. Hoje, de acordo com a lei, as mulheres têm direito:
- à assistência médica e sanitária;
- salário maternidade e licença a maternidade durante 120 dias;
O direito à previdência social visa valorizar a vida de pessoas que atingiram determinada idade ou que, por algum motivo, tornaram-se incapazes de trabalhar ou de sustentar sua família. Estão previstas em dois tipos:
- adições: pagamentos em dinheiro para aposentadoria por problemas de saúde, por idade e por tempo de colaboração, nos auxílios doenças, funeral, reclusão e maternidade, no seguro-desemprego e na renda por morte;
- benefícios: prestações continuadas como benefícios médicos, farmacêuticos, odontológicos, hospitalares, sociais;
Direito à assistência social, por sua vez, está ligada ao princípio da solidariedade e, ao mesmo tempo, às garantias constantes em toda a Constituição Federal, fazendo com que mesmo aqueles que não estão em condições de sustentar-se de forma plena tenham condições dignas de viver em sociedade.
Direito à segurança, para que todos possam exercer suas atividades sejam no trabalho, em casa ou na rua.
DIREITOS POLÍTICOS
Os direitos políticos expressam o poder de uma pessoa participar direta ou indiretamente do Governo e da formação do Estado do qual é cidadã. O exercício deles depende muito da forma de Governo estabelecida e varia regional ou nacionalmente. No caso do Brasil, eles se aplicam à Federação como um todo.
Na esfera política, onde se agregam muitos (e até mesmo contraditórios) interesses, dar esse poder ao cidadão é uma ponte para que o Governo mantenha-se dinâmico e respeite as diferentes demandas coletivas.
Dessa forma, está previsto na Constituição Federal um conjunto de normas que expressam essa atuação da voz popular. Em síntese, o direito político lhe dá o direito de votar e de ser votado.
Existe diferença entre Direitos Civis e Direitos Humanos?
Os direitos civis muitas vezes são englobados pelos direitos humanos, mas isso não quer dizer que eles sejam a mesma coisa. Enquanto os direitos humanos têm uma abrangência internacional – algo defendido pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948 –, os direitos civis têm limitações nacionais. Assim, eles só podem ser definidos por um Estado para que sejam válidos dentro do território daquele país.
Mesmo assim, a proximidade cultural dos países ocidentais faz com que as nações do Oeste global compartilhem diversos princípios e liberdades individuais, que ao serem positivados (tornados lei) constituam os direitos civis. Claro que isso não é uma regra. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é legalizado em países como o Brasil, Argentina e Uruguai, mas proibido nos vizinhos Bolívia, Peru e Venezuela.